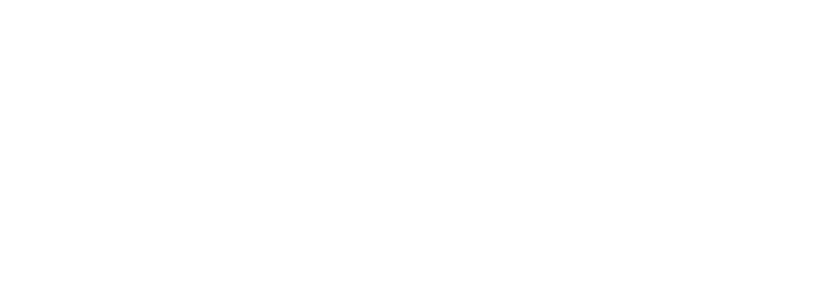Decorridos três anos da última reforma da legislação de insolvência de empresas (Lei 14.112/20), a comunidade jurídica foi surpreendida, logo no início do ano, com um novo projeto de lei cujo objetivo é, a princípio, aumentar a eficiência do processo falimentar. Salvo melhor juízo, esse também era um dos objetivos da reforma anterior e da própria Lei 11.101/05.
Dentre as inúmeras alterações sugeridas, as principais são a criação do gestor fiduciário e o plano de falência.
O primeiro seria, segundo se compreende do projeto de lei e das explicações que vem sendo trazidas a público, um administrador judicial, mas eleito pelos credores por maioria de votos na forma proposta. Segundo afirmado, terão a mesma função. Ou seja, a reforma parte do pressuposto, a nosso ver incorreto, que os juízes não sabem nomear o administrador judicial ou que o fazem com o objetivo de prejudicar os credores.
O segundo seria a elaboração e apresentação pelo administrador judicial ou pelo gestor fiduciário de um plano de realização dos ativos de modo a permitir que os credores recebam seus créditos ou o equivalente a eles no menor tempo possível. Salvo melhor juízo, já existe essa previsão na lei dentre as incumbências (artigo 99, parágrafo 3º, combinado com o artigo 22, I e III) e a distinção está no fato de que será aprovado tácita ou expressamente pelos credores.
Críticas
Tão logo veio a público, diversas críticas foram lançadas ao mesmo. Algumas questionando a oportunidade e utilidade da reforma, outras o próprio texto do projeto.
No tocante a oportunidade e utilidade, de fato, a questão chama a atenção. A legislação foi reformada em 2020, conforme já explanado, sendo que alguns dos dispositivos legais somente entraram em vigor no primeiro mês deste ano. Deve ser ressaltado que a reforma anterior se originou de amplo debate que envolveu os principais operadores da área que puderam opinar e apresentar sugestões por meio de inúmeras reuniões de trabalho por todo o território nacional.
Parece claro que uma lei que conta com três anos de vigência e alguns de seus mais importantes pontos somente se tornaram aplicáveis há menos de um mês não possa ser criticada, sendo prematura a afirmação de que não teria atingido seus objetivos. Do mesmo modo, apresentar dados estatístico a respeito da eficiência do processo falimentar coletados antes mesmo da entrada em vigor da reforma não nos parece cientificamente correto.
Aliás, os operadores são unânimes em afirmar que a reforma agilizou o processo falimentar e os obstáculos hoje enfrentados, sob a ótica processual, nos parecem relacionados ao sistema recursal geral e não a norma especializada. Dentre esses problemas destacam-se os efeitos suspensivos a recursos que em regra não o tem.
A verdade é que a lei depende de tempo de maturação para que o entendimento doutrinário e jurisprudencial se estabilize e três anos, pela experiência comum, não pode ser considerado tempo suficiente. Prova disso é que pouquíssimos pontos acerca da recente reforma já foram debatidos e julgados no Superior Tribunal de Justiça e, para um sistema que almeja segurança jurídica, a constante alteração do texto legal não parece uma alternativa adequada.
Mais do que isso, existe no Brasil uma certa tendência a acreditar que reformas legislativas tem o condão de resolver todos os problemas, o que muitas vezes não é verdade. As leis existem muitas vezes, mas não são adequadamente aplicadas ou alguns problemas simplesmente não possuem solução e nós temos que conviver com essa realidade.
De fato, é comum nos depararmos com a seguinte afirmação: o processo falimentar tem baixo índice de satisfação do crédito dos credores. E a partir daí inúmeras soluções e caminhos são apresentados. No entanto, na maior parte das hipóteses, com todo o respeito, isso ocorre não porque a lei não existe ou é mal aplicada, mas porque os credores fizeram maus negócios (forneceram ou emprestaram assumindo riscos não calculados adequadamente).
Ou seja, a primeira conclusão é que, de fato, os argumentos trazidos até este momento não são e convincentes em torno da real necessidade e eficácia de uma nova reforma e se ela terá o condão de alterar o patamar de eficácia do processo falimentar. Aliás, um dos argumentos é que o projeto trazido a luz trata de temas que não foram objeto da reforma anterior. Isso é parcialmente verdade, todavia, a insegurança que as reformas legislativas trazem ao mercado, devem ser sopesadas.
Em relação aos aspectos técnicos da nova lei, diversas são as críticas em torno da sua redação.
Como o texto do projeto, ao contrário do anterior, não foi objeto de debate prévio pela comunidade jurídica, este deverá se desenvolver no decorrer do processo legislativo, cabendo evidentemente as Casas Legislativas verificar se existe realmente necessidade de alterar a legislação e, superada essa fase, debater e corrigir eventuais distorções. Para isso, essencial a retirada do regime de urgência.
Reflexões
Algumas reflexões devem ser desde logo feitas de modo a provocar o debate.
Neste primeiro artigo sobre o tema trago duas questões que geram em nosso entender preocupação.
O primeiro gira em torno do papel do falido no processo falimentar e seus direitos.
É interessante notar que, desde a entrada vigor da lei 11.101/05, nos deparamos com afirmações no sentido de que o falido não pode ser tratado como um pária da sociedade. Aliás, seja a lei original, seja a resultante da última reforma, buscam a reabilitação do falido no menor espaço de tempo, de modo a permitir que volte a empreender. Outra prova disso é o fato dos crimes falimentares, a nosso ver de forma absolutamente equivocada, tem sido relegado a um segundo plano, quase institutos em extinção.
Nesse sentido, embora não seja comum, o fato é que, após o pagamento de todos os credores, os ativos remanescentes devem ser devolvidos ao falido. Não existe no nosso sistema uma pena de perdimento no processo falimentar e o projeto expressamente não o prevê.
Todavia, chama a atenção no projeto de lei, o fato de que o falido é absolutamente afastado da discussão em torno do plano de falência e o texto não regula como ele poderá evitar que todos seus ativos sejam liquidados ou transferidos aos credores ainda que seu valor seja superior a integralidade dos débitos. Ao contrário, a lei não trata da possibilidade do falido impugnar o plano de falência (tem voz, a princípio, mas sem qualquer efeito prático).
Ou seja, ao que tudo indica, a legislação passa a adotar dois regramentos que, salvo melhor juízo, se contrapõe: o falido deve ser reabilitado rapidamente, mas deve se reerguer do nada.
O segundo refere-se ao gestor fiduciário que, segundo já esclarecido, nada mais é do que um administrador judicial eleito pelos credores.
Em sendo assim, algumas regras, em nosso entender, devem constar expressamente no texto de lei de modo a evitar futuras discussões.
Do mesmo modo que o administrador judicial, o limite de sua remuneração e de seus auxiliares deve ser 5%. Com efeito, se o objetivo da lei é aumentar a eficiência do processo falimentar, não nos parece lógico permitir que as despesas com a massa sangrem os ativos, questão aliás que, desde o decreto lei, é apresentada com uma das causas do não ressarcimento adequado dos credores. Se não for assim, por uma questão de igualdade, deve ser admitido que o administrador judicial (caso não seja eleito o gestor fiduciário) ao elaborar o plano de falência proponha que sua remuneração seja superior aos 5% previstos em lei e, se não houver impugnação na forma proposta pelo projeto ou for aprovado pela assembleia de credores, seja homologada pelo juiz.
Outro ponto que merece atenção nos parece a relação existente entre os sujeitos do processo e as regras que envolvem imparcialidade e transparência. Muitas regras foram criadas em torno dos critérios de nomeação dos administradores judiciais (número de nomeações, relações com os juízes, entre outras) e devem ser estendidas aos gestores fiduciários somente que agora a partir da relação deste com os credores.
A atuação dos gestores fiduciários deve se submeter a regras assemelhadas a dos administradores judiciais que envolvem a sua imparcialidade e o dever de revelação em respeito a transparência do processo falimentar. Assim, não poderão os gestores fiduciários, em nosso entender, prestar serviços por si ou por meio do grupo econômico ou jurídico de que fazem parte aos credores que o elegeram ainda que em outros processos ou áreas, como, por exemplo, consultoria.
De igual forma, acredito ser hipótese de suspeição, a atuação do gestor fiduciário nas habilitações e impugnações de crédito que envolvam os direitos dos credores que o elegeram. Assim, deverá a lei prever uma espécie de “administrador Judicial” ou “gestor ad hoc” para esses casos.
Outro ponto que merece maior reflexão para evitar discussões futuras é a seguinte sequência lógica. O credor elege o gestor fiduciário; o gestor faz o plano de trabalho; o plano de trabalho prevê a dação em pagamento de ativos para o credor que elegeu o gestor; e o credor que elegeu o gestor é que não impugna ou aprova seu plano de trabalho. Essa “simbiose” pode nos levar a crer que alguns credores poderão conduzir a escolha do gestor fiduciário para que este atue em benefício de quem o elege e não da coletividade de credores.
Aliás, desde a entrada em vigor da Lei 11.102/05, as atribuições do administrador judicial aumentaram substancialmente. Na prática, é um auxiliar do Juízo que substitui não somente parte da atividade cartorial, como emite pareceres em questões relevantes. O pressuposto desse aumento de funções é a confiança do Juízo no administrador judicial que ele nomeou. Parece difícil considerar produtivo e eficiente um sistema em que o Juízo seja obrigado a confiar nas atividades de quem ele sequer muitas vezes conhece. Neste ponto, o agente fiduciário, salvo melhor juízo, poderá provocar um retardamento do processo.
Responsabilidade
Outro ponto também que deve ficar claro é a questão da responsabilidade. Evidente que a atuação do gestor fiduciário, da mesma forma que o administrador judicial, pode causar danos. E, nos limites da legislação em vigor, os danos devem ser ressarcidos. No caso do administrador judicial, escolhido pelo magistrado, nos limites da legislação vigente, a responsabilidade subsidiária pode recair no próprio Estado.
Evidente também que essa regra não se aplica ao gestor fiduciário, não podendo o Estado responder pelos danos que aqueles causou, vez que sua indicação não partiu de seu agente, mas sim da vontade da maioria dos credores; neste caso, a responsabilidade subsidiária deverá ser daqueles que o elegeram, cabendo a legislação falimentar regular a matéria, caso contrário, deverão ser aplicadas as regras gerais do Código Civil, não podendo ser a mesma excluída pelo plano de falência, por razões óbvias.
A verdade é que, sem entrar, por enquanto, no mérito se deve ser levada adiante a reforma legislativa é imprescindível que os novos institutos sejam debatidos antes da aprovação do texto legislativo, pois, caso contrário, a insegurança jurídica somente prejudicará as partes do processo de insolvência e a eficiência almejada na venda ou dação dos ativos, seja abatida pela ineficiência no desenvolvimento do processo.
Fonte: Consultor Jurídico