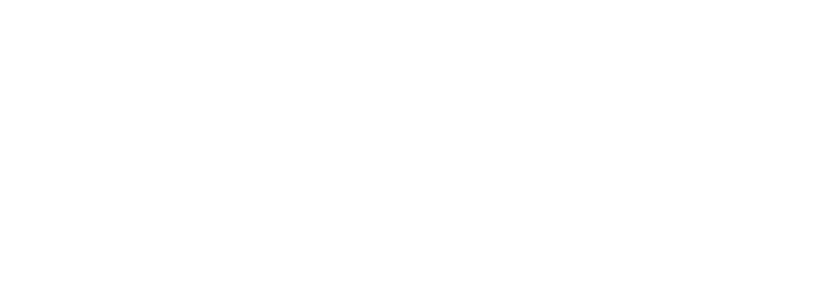A transformação do Banco Central em empresa pública, como pretende a Proposta de Emenda à Constituição 65, defendida pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto, vai ampliar a ingerência do Congresso no banco e, consequentemente, corroer sua independência.
Essa percepção é dos especialistas entrevistados pela revista eletrônica Consultor Jurídico, que também apontam para outro problema: o poder de polícia do Banco Central. A autarquia é encarregada de fiscalizar o sistema financeiro, incluindo, por exemplo, o auxílio às autoridades na prevenção à lavagem de dinheiro. E, para os estudiosos, essa atuação é incompatível com o status de empresa pública, como está na proposta.
O texto da PEC altera o artigo 164 da Constituição para modificar a natureza jurídica do Banco Central. Essa alteração, caso aprovada, será sucedida de lei complementar para regulamentar essa nova organização, chamada pelos entrevistados de “carta em branco” para o Congresso decidir, ao seu sabor, sobre cargos de confiança e a fiscalização da política monetária, por exemplo.
O artigo citado passaria a afirmar, em seu parágrafo 7º, que a fiscalização “contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Banco Central, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e pelo sistema de controle interno do Banco Central”.
Mudar a natureza do BC de autarquia especial — pessoa jurídica de Direito Público — para empresa pública — que figura no âmbito do Direito Privado — faria o banco ter menos ferramentas para exercer seu trabalho de forma independente, diz o professor do Insper e advogado André Castro Carvalho. “A empresa não vai ter garantias como precatórios, por exemplo. Ela terá menos prerrogativas e, no fim, perderá autonomia.”
“É uma redação truncada em relação à supervisão do Banco Central. É como se entregasse a fiscalização de vez ao Congresso. E isso é sensível porque a gestão do BC requer duplo distanciamento, tanto das pressões políticas quanto das pressões de mercado”, afirma o professor da UFPI e procurador do Ministério Público de Contas do Piauí Leandro Maciel do Nascimento.
“Quando se tem uma maior ingerência do Legislativo, há esse grande risco de captura. Se o BC, por exemplo, se transformasse em empresa pública com cargos e salários muito elevados, aumentaria esse risco. É possível que a independência do banco seja comprometida, porque ele vai ficar mais atrativo (para a classe política). É como se o BC entrasse no jogo das estatais”, completa Nascimento.
Transparência minada
A professora da Fundação Getulio Vargas e procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo Élida Graziane Pinto publicou artigo na ConJur defendendo a regulamentação da Lei Complementar 179/2021, que definiu a autonomia do Banco Central, e a revisão do Decreto 3088/1999, que determinou o sistema de metas de inflação. Segundo ela, a PEC, além de comprometer a fiscalização do BC, ainda mina sua transparência.
“O Executivo perderia a competência privativa para regular a organização da administração pública federal e a sociedade perderia o controle republicano dos entes que exercem competências regulatórias mais poderosas e suscetíveis à captura pelo mercado.”
O poder de polícia atribuído ao Banco Central é outro ponto delicado. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 633.782), que estatais “de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial” podem exercer esse poder.
A discussão no STF, no entanto, abarcou questões de multas de trânsito, que têm natureza distinta da atuação do BC — o banco age na prevenção de crimes financeiros, como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e fiscaliza operações no mercado de capitais.
“Existe uma incompatibilidade de fiscalização, regulação e poder de polícia com a nova natureza jurídica do BC que seria instituída a partir da aprovação dessa PEC. Via de regra, não se aceita esse tipo de atribuição para entidades privadas e estatais, por isso salta aos olhos essa proposta”, diz Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo e do IDP em Brasília.
Justino também endossa a posição de que há riscos à autonomia do BC em caso de transformação da autarquia em estatal.
“Enquanto autarquia, a maior parte dos cargos é preenchida por servidores de carreira. Isso blinda a própria entidade de influências políticas. É delicado você pensar que, a partir da transformação em empresa pública, outros cargos podem ser preenchidos por indicação política. E a blindagem de hoje é justamente para que ele possa exercer de forma independente suas atividades.”
Problemas intactos
Um dos argumentos citados por Campos Neto para defender a proposta é o da suposta fuga de cérebros do BC, tendo em vista as diferenças de salários da autarquia em relação à iniciativa privada e às estatais. Segundo ele, a transformação em empresa pública poderia fazer com que os vencimentos fossem maiores, sem precisar respeitar o teto do serviço público (hoje equivalente ao salário de ministro do STF).
Os especialistas contestam essa perspectiva e temem a equiparação do BC a estatais como o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que têm executivos com salários altíssimos, mas são contaminadas pela política partidária. Mesmo assim, dizem eles, não haveria como comparar os salários de uma empresa pública com os oferecidos pelas corporações privadas.
“Se compararmos com a gestão anterior da Caixa Econômica Federal, por exemplo, vemos que o então presidente (Pedro Guimarães) complementava seu salário com posição em conselhos. Ou seja, mesmo em uma empresa pública, não há como pagar salários de mercado, e provavelmente aconteceria a mesma coisa”, diz André Castro Carvalho.
Jefferson Alvares, ex-advogado do Fundo Monetário Internacional e estudioso do funcionamento de bancos centrais em outros países, afirma que um dos principais questionamentos dos funcionários da autarquia brasileira é o sucateamento da carreira. A PEC, que transforma os funcionários em celetistas e retira sua estabilidade, não tem resposta para essa reivindicação, segundo ele, e ainda abre espaço para mais pressões políticas.
“Vamos tirar a estabilidade de uma entidade que é supercontroversa e muito relevante para o bem-estar econômico? Isso exporia muito a entidade a pressões políticas. Ainda que a gente conseguisse formatar na lei uma estrutura institucional muito adequada, a pressão poderia se fazer via política salarial, perseguição política ou demissões.”
Alvares, que é entusiasta de mais autonomia ao BC, diz que a PEC pode até ter boas intenções ao tentar suprimir determinados gargalos da autarquia, mas ele acredita que o texto apenas abre um flanco para que os legisladores decidam sobre a organização do banco.
“O BC consegue um naco de autonomia e, ao invés de seus dirigentes fazerem uma autocontenção do jogo político, eles se lançam de cabeça nesse confronto. É um grande desserviço à própria construção da cultura de autonomia do banco “, diz o procurador.
Élida Graziane Pinto, por sua vez, teme um movimento de outras autarquias buscando o mesmo caminho do BC.
“Se o BC conseguir essa autonomia via PEC para se tornar empresa estatal não dependente, para contornar as restrições do teto remuneratório do serviço público e os limites orçamentário-financeiros, pode abrir o risco de um estouro de manada para todos os demais entes da administração indireta, que potencialmente o mercado e o Congresso queiram ‘excetuar’ das amarras do regime publicístico.”
PEC por quê?
Os estudiosos do tema entrevistados pela ConJur não têm resposta para essa pergunta. A cruzada de Campos Neto contra a deterioração da carreira e para aprofundar a independência do BC, dizem eles, não requer nenhuma alteração na Constituição.
Pontos como os concursos públicos, que o banco não faz desde 2013 (a autarquia abriu neste ano um certame após 11 anos), e a dependência do Executivo para tomar determinadas decisões orçamentárias poderiam ser tratados sem necessidade de PEC.
“Houve uma falha de análise de cenário. Eles abriram a estrada, mas não pavimentaram. Bastaria vincular as receitas do BC aos próprios gastos”, diz Jefferson Alvares.
“O BC tem à sua disposição uma carteira volumosa de títulos para execução, e por previsão legal o Tesouro é obrigado a manter esse nível. Ou seja, para a sua atividade finalística, seu custeio não precisa de orçamento prévio”, diz o procurador Leandro Maciel. Segundo ele, a ideia de mudar o teto remuneratório a partir da transformação da natureza jurídica do banco “não é compatível com a finalidade do BC”. “É um risco que não interessa ao país.”
“Se o objetivo é melhorar, poderia se aplicar determinados padrões de governança das estatais, no sentido de ter controle técnico de quem ocupa as funções. Outro ponto é a gestão de risco, que o BC já tem, mas poderia ser mais estimulada internamente. Decisões com mais governança tendem a ser mais legítimas. Isso nem precisaria de PEC, bastaria um decreto”, diz o professor Andre Castro Carvalho.
Clique aqui para ler a proposta
PEC 65/2024
O post Transformação do Banco Central em empresa pública deve corroer sua autonomia apareceu primeiro em Consultor Jurídico.