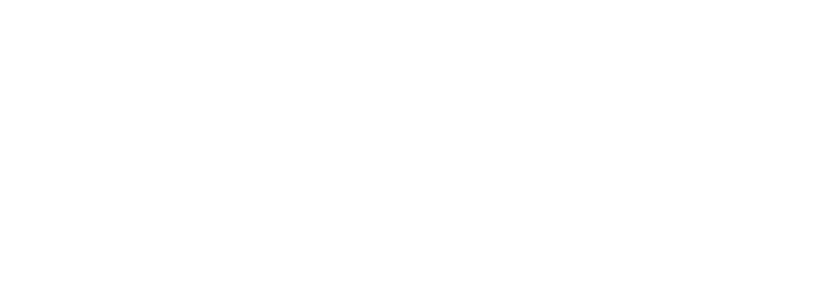O mercado digital deve ser regulado de forma equilibrada, para que seja possível coibir abusos sem inibir a inovação. Se assim não for feito, normas excessivamente rígidas tendem a sufocar o dinamismo necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias.
Essa interpretação é de Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em uma consulta pública aberta pelo Ministério da Fazenda, o órgão manifestou interesse em ser o regulador das big techs em matéria econômica.
Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico, Cordeiro afirmou que o Cade manifestou interesse porque tem expertise e “capacidade de lidar com as complexidades do mercado digital”.
“O Cade possui um histórico robusto na análise de questões concorrenciais no âmbito da economia digital, demonstrando capacidade de implementar remédios eficazes para restaurar a competitividade em mercados complexos. Essa expertise permite ao Cade não apenas identificar e corrigir distorções de mercado, mas também antecipar problemas e agir de maneira preventiva.”
Segundo ele, uma boa regulação deve coibir práticas anticompetitivas que criem concentração de mercado, sem com isso impedir a adoção das novas tecnologias.
“O desafio reside em encontrar um equilíbrio delicado entre a regulação que protege contra abusos e a flexibilidade que permite a inovação. A criação de uma regulamentação adaptativa e responsiva, que evolua juntamente com o mercado digital, é uma solução para esse dilema.”
De acordo com o presidente do Cade, o Projeto de Lei 2.786/2022, que discute o tema, é insuficiente porque não fornece uma noção explícita de “concorrência justa” nos mercados digitais, diferentemente de iniciativas internacionais. Ainda assim, ele defende uma abordagem brasileira para a regulação.
“Essa avaliação ainda precisa ser cuidadosamente aprofundada no caso brasileiro, considerando as especificidades do nosso arcabouço jurídico-institucional. Não podemos cair na armadilha da mera importação de princípios estrangeiros, sem adaptá-los às nossas demandas.”
O projeto, de autoria do deputado João Maia (PL-RN), atribui à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o poder de regular a operação das plataformas digitais, mas resguarda a atuação do Cade no controle de atos de concentração econômica envolvendo as plataformas.
Leia a seguir a entrevista:
ConJur — O Cade manifestou interesse em ser o regulador das plataformas digitais no Brasil. Como se daria a atuação do órgão nessa função?
Alexandre Cordeiro — A manifestação de interesse se deu devido à expertise do Cade e à capacidade de lidar com as complexidades do mercado digital. A proposta é baseada em diversas justificativas e planos detalhados para a implementação dessa regulação. A experiência acumulada ao longo dos anos confere ao Cade uma compreensão profunda das dinâmicas e dos desafios específicos dos mercados digitais, o que é essencial para uma regulação eficaz. Essa expertise permite ao Cade não apenas identificar e corrigir distorções de mercado, mas também antecipar problemas e agir de maneira preventiva.
Considerando a realidade brasileira, a avaliação inicial do Cade é que seria adequado pensar em uma estrutura regulatória flexível, com ajuste individual das disposições e monitoramento contínuo. Isso permitiria uma abordagem regulatória mais eficaz e informada, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças no mercado digital e às novas práticas empresariais que possam surgir. Essa flexibilidade regulatória é essencial para lidar com a rápida evolução tecnológica e as mudanças nas dinâmicas de mercado, permitindo que o regulador responda de maneira ágil e eficiente a novos desafios.
Para implementar a regulação, o Cade considera a criação de uma unidade especializada dentro de sua estrutura organizacional dedicada exclusivamente aos mercados digitais. Essa unidade seguiria o modelo de outras iniciativas internacionais, como a Digital Markets Unit (DMU) no Reino Unido, que opera dentro da autoridade antitruste e é especializada em questões relacionadas a mercados digitais. A criação de uma unidade especializada permitiria ao Cade concentrar recursos e expertise nas peculiaridades dos mercados digitais, aumentando a eficácia da regulação. Essa unidade seria responsável por monitorar continuamente o mercado, identificar práticas anticompetitivas e propor intervenções regulatórias quando necessário.
Outra parte crucial do plano do Cade é fortalecer a colaboração com órgãos internacionais de competência similar. Essa cooperação facilitaria a troca de conhecimentos e práticas, contribuindo para uma abordagem mais alinhada às tendências globais na regulação da concorrência. Participar de fóruns e redes internacionais permite ao Cade aprender com as experiências de outros países, adaptar soluções bem-sucedidas e evitar armadilhas comuns.
ConJur — Na consulta pública aberta pelo Ministério da Fazenda, o Cade defendeu uma regulação preventiva e assimétrica, que leve em conta o tamanho de cada plataforma. Como se daria essa forma de regulação e por que essa seria a melhor opção?
Alexandre Cordeiro — O Cade defende um modelo de regulação ex-ante assimétrico para plataformas digitais, baseado em uma abordagem flexível e adaptável. Nossa proposta é motivada pelo reconhecimento de que plataformas digitais possuem características econômicas e concorrenciais distintas, que podem gerar riscos à competição e à inovação, exigindo um escrutínio regulatório mais intenso para aquelas com maior poder econômico e função de gatekeepers.
A regulação assimétrica é preferida porque a imposição indiscriminada de obrigações regulatórias a todas as plataformas, independentemente de seu porte e posição de mercado, poderia gerar custos de compliance desproporcionais e desincentivar a inovação e a entrada de novos competidores. Portanto, a regulação deve se concentrar nas plataformas que apresentam maior capacidade de adotar condutas anticompetitivas.
Para a implementação dessa regulação, o Cade propõe uma análise de impacto regulatório detalhada, para avaliar os efeitos potenciais das opções regulatórias. É fundamental abordar com cautela o paradoxo que permeia os mercados digitais. Por um lado, esses mercados são caracterizados por sua natureza disruptiva e rápida evolução, o que significa que um excesso de regulação pode resultar em barreiras que inibem a inovação. A inovação é o motor do crescimento econômico e da competitividade, e regulamentações excessivamente rígidas podem sufocar o dinamismo necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócios.
Por outro lado, a ausência de regulamentação adequada pode levar a um cenário onde o enforcement é insuficiente para conter abusos de posição dominante no futuro. Empresas digitais têm o potencial de crescer rapidamente e atingir um tamanho que lhes permite exercer um poder de mercado significativo, o que pode resultar em práticas anticompetitivas e prejudiciais ao consumidor. Sem uma estrutura regulatória eficaz, torna-se difícil intervir de maneira preventiva e corretiva para garantir um mercado justo e competitivo.
Portanto, o desafio reside em encontrar um equilíbrio delicado entre a regulação que protege contra abusos e a flexibilidade que permite a inovação. A criação de uma regulamentação adaptativa e responsiva, que evolua juntamente com o mercado digital, é uma solução para esse dilema.
ConJur — Quais são as outras medidas necessárias para superar esse desafio?
Alexandre Cordeiro — Não apenas para as redes sociais, mas para mercados digitais em geral, a regulação ex-ante pode ser importante devido às suas características (dos mercados), como externalidades de rede e tendências de concentração de mercado. Tais práticas precisam ser prevenidas proativamente para evitar danos significativos ao mercado. A abordagem ex-ante visa precisamente a essa antecipação, essencial em um ambiente onde um único ator pode rapidamente dominar o mercado devido aos chamados efeitos de rede.
Como exemplo, facilitar a portabilidade de dados e a interoperabilidade entre plataformas é uma medida importante para aumentar a contestabilidade do mercado. Isso significa permitir que os usuários transfiram seus dados facilmente de uma rede social para outra, reduzindo os custos de troca e promovendo uma concorrência mais saudável. A interoperabilidade também diminui as barreiras à entrada de novos competidores.
Outro ponto é a regulação das práticas de autopreferência. Plataformas que favorecem seus próprios produtos ou serviços em detrimento de concorrentes podem abusar de seu poder de mercado, e a regulação dessas práticas ajuda a evitar tais abusos.
É necessário ressignificar condutas abusivas convencionais, como práticas de exclusividade e vinculação de produtos, para o contexto das redes sociais. Isso pode incluir a pré-instalação de aplicativos de determinada empresa em sistemas operacionais móveis ou a imposição de serviços conjuntos de redes sociais e anúncios de e-commerce. Tais práticas podem excluir rivais e levantar preocupações sobre abusos de exploração, como a imposição de termos de uso abusivos e a coleta excessiva de dados.
Esses aprimoramentos visam não apenas a garantir uma concorrência justa e promover a inovação, mas também a proteger os consumidores no ambiente digital dinâmico das redes sociais.
ConJur — Há modelos estrangeiros que poderiam ser adotados por nosso país ou o Cade defende uma solução totalmente brasileira?
Alexandre Cordeiro — Atualmente, existem diversas propostas de regulação ex-ante de mercados digitais que estão sendo discutidas ou já estão sendo implementadas ao redor do mundo. A legislação mais conhecida é o Digital Markets Act (DMA), da União Europeia, que foi aprovado em 2022 e cujas regras começaram a ser aplicadas em março deste ano. Mas existem outros modelos de regulação, como o artigo 19 da Lei Alemã de Defesa da Concorrência e o Digital Markets, Competition and Consumers Bill (DMCC Bill), aprovado em maio deste ano no Reino Unido.
O Cade entende que devem ser avaliadas as vantagens comparativas de cada uma dessas experiências internacionais. Enquanto o DMA apresenta uma extensa lista de obrigações para os gatekeepers, os modelos alemão e inglês apostam em estratégias de regulação mais responsivas.
De toda forma, essas experiências internacionais apontam para a importância de adotar uma abordagem de intervenção mais abrangente do que a aplicação das leis antitruste tradicionais, complementando a legislação com regulamentos específicos para o setor digital. É crucial encontrar um equilíbrio entre a promoção da inovação e a garantia de concorrência, evitando que a regulação prejudique a inovação.
O Brasil pode se inspirar em modelos estrangeiros, especialmente o europeu, mas o Cade defende uma abordagem brasileira, que leve em conta as particularidades do nosso mercado.
ConJur — Alguns especialistas defendem a expansão do escopo de atuação de órgãos como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e Anatel, para que atuem no conteúdo concorrencial das big techs. O que o senhor acha dessa ideia?
Alexandre Cordeiro — Até o momento, na maioria das jurisdições analisadas, as autoridades de defesa da concorrência têm sido as principais responsáveis pela implementação das novas regras ex-ante para plataformas digitais, refletindo uma tendência de fortalecimento dessas autoridades já existentes, ao invés da criação de novos órgãos reguladores.
A expansão do escopo de atuação de órgãos como ANPD e Anatel para incluir questões concorrenciais relacionadas às big techs não parece ser a melhor opção em termos de política pública. Na minha visão, o Cade deve continuar sendo o principal responsável pela regulação concorrencial dessas empresas.
Primeiramente, o Cade possui uma expertise específica e uma competência legal, definida pela Lei 12.529/201, para tratar do bem-estar do consumidor e da livre concorrência no mercado. Essa especialização torna o Cade apto a enfrentar as complexidades do mercado digital, onde as big techs operam. A consistência nas decisões é fundamental para garantir um ambiente competitivo, e a dispersão de responsabilidades entre múltiplos órgãos pode resultar em uma aplicação menos eficaz das leis antitruste.
Expandir o papel da ANPD e da Anatel poderia gerar sobreposições regulatórias e conflitos de competência, criando um cenário onde a clareza e a eficiência regulatória são comprometidas. Cada agência tem um foco e especialização próprios — proteção de dados e telecomunicações, respectivamente —, e desviar dessas áreas pode reduzir a qualidade de suas atuações principais. Alargar seus escopos para incluir a regulação concorrencial poderia diluir seus recursos e comprometer a eficácia de suas funções originais.
Entendo que a cooperação entre diferentes órgãos é essencial, mas a regulação da concorrência das big techs deve permanecer com o Cade. Isso garante uma abordagem especializada, coesa e eficaz, que assegura tanto a inovação quanto a competição no mercado digital. Portanto, fortalecer o Cade nessa função é a melhor estratégia para lidar com os desafios concorrenciais impostos pelas big techs, promovendo um ambiente econômico mais justo e dinâmico.
ConJur — O senhor afirmou que o Cade tem expertise no tema. Pode citar exemplos da atuação do órgão no mercado digital?
Alexandre Cordeiro — O Cade tem demonstrado uma expertise significativa no tema das plataformas digitais, desenvolvendo uma série de iniciativas, estudos e casos práticos focados na concorrência em mercados digitais.
Quanto aos casos, o número envolvendo plataformas digitais aumentou significativamente nos últimos anos. Entre 1995 e abril de 2023, foram notificados 233 atos de concentração em mercados digitais, sendo aproximadamente 26% destes relacionados ao varejo online, e 24% concernentes ao segmento de publicidade online.
Um exemplo notável é a análise do Cade na aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, que envolveu mercados digitais. Esse caso destacou diferenças significativas na abordagem de várias jurisdições, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil, refletindo a capacidade do Cade de lidar com fusões complexas em ecossistemas digitais, considerando as especificidades de cada contexto regulatório e as implicações concorrenciais dessa transação. Também podemos citar como outros casos relevantes já tratados pelo Cade os julgamentos envolvendo a TotalPass e a Gympass e iFood, Rappi e Uber Eats, nos quais o Cade determinou, por exemplo, o encerramento de acordos de exclusividade.
Em parceria com a autoridade de concorrência da Rússia, o Cade também coordenou um grupo de trabalho dos Brics sobre concorrência no mercado digital, culminando na publicação de dois relatórios “BRICS in the Digital Economy: Competition Policy in Practice”, que discutem as práticas e os desafios enfrentados pelas autoridades antitruste dos países-membros em relação à economia digital. O mais recente desses relatórios foi publicado em abril deste ano, e tem sido bastante elogiado pela comunidade internacional.
ConJur — Com a legislação existente no Brasil, já é possível falar em regulação?
Alexandre Cordeiro — Sim, é possível. Entretanto, o modelo atual não basta. Algumas mudanças são necessárias para nos atualizarmos e ganharmos eficiência. Com o modelo atual, estamos restritos a uma abordagem ex-post, falhando em capturar as dinâmicas específicas e inovadoras das plataformas digitais, exigindo uma abordagem regulatória mais refinada e adaptada à realidade do ambiente digital. É importante pensar em uma proposta de regulação ex-ante, visto que as leis antitruste tradicionais não são suficientes para endereçar os riscos de danos aos consumidores e à sociedade em geral decorrentes de problemas concorrenciais verificados nos ecossistemas digitais.
Essa avaliação ainda precisa ser cuidadosamente aprofundada no caso brasileiro, considerando as especificidades do nosso arcabouço jurídico-institucional. Não podemos cair na armadilha da mera importação de princípios estrangeiros, sem adaptá-los às nossas demandas. Contudo, com o espírito de colaborar para o avanço dessa discussão, é importante compreender quais são os focos de insuficiência que têm sido apontados, a fim de que se possa aprofundar essa avaliação em relação ao regime da Lei 12.529/2011.
—
O post Regulação das big techs deve coibir abuso sem inibir inovação, diz presidente do Cade apareceu primeiro em Consultor Jurídico.