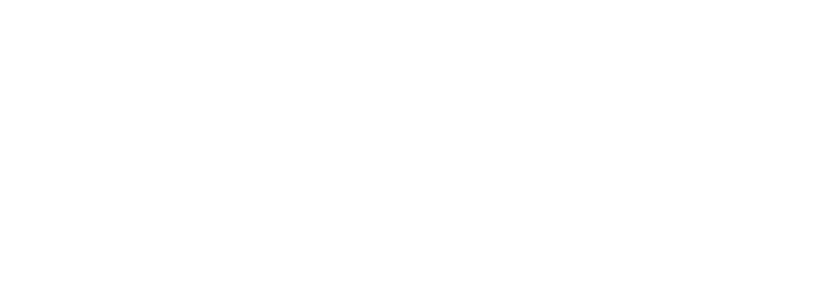Parlamentares e representantes do setor esportivo afirmaram que os vetos presidenciais à Lei Geral do Esporte prejudicam a justiça desportiva e o acesso a equipamentos de ponta. As declarações ocorreram na quarta-feira (16) em audiência pública conjunta das comissões do Esporte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Embora o Congresso Nacional tenha derrubado parte dos 397 vetos (VET 14) no ano passado, 355 ainda estão pendentes de análise. A Lei Geral do Esporte reúne dispositivos de outras normas que tratam do esporte (como o Estatuto do Torcedor, a Lei Pelé e a Lei de Incentivo ao Esporte), criando novos marcos para o setor.
A senadora Leila Barros (PDT-DF) disse que os parlamentares alinharam com o governo federal, em 2023, um novo texto sobre os pontos vetados, a ser votado como projeto de lei. O senador Carlos Portinho (PL-RJ), por sua vez, informou que o acordo com a então ministra do Esporte, Ana Moser, não foi mantido pelo atual titular da pasta, André Fufuca.
“Sentamos com o ministro Fufuca, entre alguns desencontros, e conseguimos chegar a algumas coisas menores, mas o resto não foi cumprido”, afirmou Portinho.
Isenção tributária
O diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Emanuel Rego, criticou a retirada, por meio dos vetos presidenciais, de isenção de tributos para o esporte. Entre eles estava a isenção de Imposto de Importação e sobre Produtos Industrializados (IPI) para importação de equipamentos ou materiais esportivos utilizados em competições de alto nível.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Luiz Lima: esporte beneficia a sociedade e deve ter imunidade tributária
“As importações de materiais esportivos são importantíssimas para o mundo olímpico”, ressaltou Emanuel, que é detentor de três medalhas olímpicas no vôlei de praia (ouro em Atenas 2004 e bronze em Pequim 2008, em parceria com Ricardo Santos, e prata em Londres 2012, jogando com Alisson Cerutti). “Nossas seleções de voleibol precisam de um piso específico, que não é fabricado no Brasil; a ginástica necessita, a cada quatro anos, renovar seu plantel de equipamentos, porque há mudanças nas regras”, exemplificou o dirigente do COB.
Segundo o governo federal, os parlamentares não apresentaram os estudos de impacto financeiro exigidos pela legislação para novos benefícios fiscais.
Benefícios sociais
O deputado Luiz Lima (Novo-RJ), que foi nadador olímpico, apontou que outras atividades que podem beneficiar a sociedade não sofrem cobrança de determinados impostos.
“A gente tem de lembrar que igrejas, partidos políticos, entidades sindicais, culturais, de imprensa e de reforma agrária gozam de imunidade tributária sobre bens”, comentou. “E aí a pergunta que fica: não seria justo o esporte também ser contemplado com incentivos fiscais similares, diante dos benefícios sociais que proporciona?”, continuou Lima.
A cada R$ 1 investido pelo Estado no esporte, R$ 12 retornam para a economia, conforme a representante do Instituto Sou Esporte, Fabiana Bentes. Os dados são de estudo realizado pela entidade.
“A gente precisa do investimento econômico para incluir, para ter o desenvolvimento social. É a economia que faz o desenvolvimento social, e não o contrário”, defendeu Fabiana. “Uma Rafaela Silva [judoca medalhista de ouro na Rio 2016] não cai do céu por inclusão social. Ela existe porque recebeu um investimento em toda a sua carreira, como todos os atletas que estão aqui.”
Justiça desportiva
O assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, defendeu que as organizações esportivas possam criar seus próprios tribunais do esporte, que são entidades privadas. Para ele, dar mais autonomia às federações esportivas é a forma de melhor atender às demandas de cada esporte.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Fabiana Bentes: cada R$ 1 investido pelo Estado no esporte traz retorno de R$ 12
“Um dos trechos vetados colocou como opção: se você quiser manter a estrutura, mantém a estrutura. Agora, nada impede que você busque outros meios, outras formas de organizar a sua Justiça Esportiva”, disse Darbilly. “A gente tem dificuldade até mesmo de formar esses tribunais esportivos em federações menores. E se houver qualquer tipo de desvio na formação, os meios de fiscalização e controle estão todos aí”, acrescentou.
Atualmente, cada esporte deve ter uma justiça desportiva por estado, e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) responde em nível nacional.
As entidades de administração também teriam maior liberdade para determinar as infrações e as punições em seu esporte. Desde 2009, há um Código Brasileiro de Justiça Desportiva que trata das infrações em todos os esportes. Os trechos vetados previam que o código seria substituído pelas normas adotadas para cada esporte. As informações são do presidente do STJD do futebol, Luís Otávio Veríssimo Teixeira.
O governo federal entende que a flexibilização pode gerar entraves à atuação do Estado e dificulta o controle, segundo a mensagem que justifica os vetos.
Internacional
Os convidados também defenderam que a Lei Geral do Esporte preveja sua consonância com atos internacionais. O governo federal vetou o trecho por entender que poderia haver conflito com as leis brasileiras. No entanto, para o representante do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Caio Pompeu Medauar de Souza, muitas normas já são copiadas das federações internacionais.
“As normas antidopagem praticamente foram copiadas da Lei Pelé para a Lei Geral do Esporte, porque a Agência Mundial Antidoping negocia como a legislação de cada país vai ser colocada”, disse. “A agência ameaça os países de tirar da conformidade caso haja algo na legislação que não esteja de acordo. A gente fala em soberania, autonomia, mas tem essa ‘interferência'”, completou.
Amparo ao atleta
O representante da Liga Forte União, Gabriel Ribeiro Lima, defendeu o fim das contribuições dos clubes à Federação das Associações de Atletas Profissionais (Faap). Para isso, na visão dele, os parlamentares devem manter o veto aos trechos que preveem que essa entidade privada sem fins lucrativos deve realizar programas de assistência social, educacional e de trabalho para os atletas. Desde a Lei Pelé, a Faap exerce a atribuição custeada por parte dos salários e vendas dos atletas.
“A Faap recebeu grandes quantias de dinheiro sem ter prestado contas de como esses recursos são utilizados. 1% de todas as transferências de atleta e 0,5% de todos os salários supostamente são para ajudar os atletas, mas não tem nenhuma prova que esses auxílios de fato tenham acontecido”, declarou. “A gente convida o Parlamento e o governo a desenharem alternativas menos espúrias.”
Em manifestação sobre o veto entregue a deputados e senadores, a Faap defende que os valores são revertidos em ações de educação e saúde aos atletas, como a concessão de um milhão de bolsas de estudos desde 2013. A federação ainda afirma que os principais clubes de futebol do país questionam na Justiça as cobranças, mas que diversos deles já desistiram dos processos judiciais após firmarem acordo com a Faap.
Insegurança jurídica
O projeto da Lei Geral do Esporte (PL 1825/22) aprovado pela Câmara e pelo Senado incorporava o conteúdo de seis leis sobre o esporte e, por essa razão, as revogava. No entanto, como o governo federal vetou diversos trechos, optou por não revogar totalmente a Lei Pelé e a Lei de Incentivo ao Esporte para não deixar lacunas legislativas.
A coexistência das leis diverge, por exemplo, na definição do que é um atleta profissional, segundo o gerente jurídico do COB, Ricardo Nobre. Na Lei Pelé, o atleta profissional deve possuir contrato especial com entidade de prática desportiva, o que não é uma exigência da Lei Geral do Esporte, por exemplo.
Já o presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), Jorge Henrique Pereira Borçato, defendeu a manutenção da Lei Pelé. Para ele, a lei antiga já atendia às expectativas da federação para o futebol brasileiro.
Fonte: Câmara dos Deputados