O Pontal do Paranapanema está localizado no extremo oeste do estado de São Paulo, na divisa entre os estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul. A região é conhecida nacionalmente por questões fundiárias, de grilagens e de seguidas invasões de propriedades. No meio disso tudo está o Estado de São Paulo, sustentando que as terras são devolutas, e que os registros imobiliários em nome dos particulares estão eivados de vício insanável na origem da filiação dominial.
A situação da região é diferente de outras regiões do Brasil, pois quase todos os imóveis estão devidamente registrados nos Cartórios de Registros de Imóveis.
A maioria das matrículas imobiliárias atuais da citada região deriva do primeiro registro imobiliário de 31 de março de 1901, no Cartório de Imóveis de Assis (SP), Transcrição nº 133, do imóvel denominando Fazenda Pirapó e Santo Anastácio.
Segundo a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o registro originário da Fazenda Pirapó e Santo Anastácio teria sido aberto de forma ilegal, sem o devido destaque do Estado ou do processo de revalidação exigido pela Lei nº 601 de 1850, conhecida como Lei de Terras.
Com fundamento nessa alegação são promovidas as ações discriminatórias visando separar as terras particulares das terras devolutas. Terminado o processo, se a ação for julgada procedente, dar-se-á início a fase demarcatória para individualizar o perímetro devoluto, momento em que são canceladas as matrículas imobiliárias atuais até o registro primitivo, possibilitando ao Estado entrar com a ação reivindicatória para tomar posse do imóvel.
Normalmente, o Estado é obrigado a indenizar pelas benfeitorias feitas no imóvel antes de ser imitido na posse. Todavia há casos em que o proprietário sequer teve esse direito reconhecido [1].
É importante consignar que o registro imobiliário tem origem no Brasil justamente quando vigia a Lei de Terras nº 601/1850, e seu regulamento no Decreto nº 1.318/1.854. Assim, quando da abertura da Transcrição nº 133, em 31 de março de 1901, deveria o oficial registrador observar os dispositivos legais vigentes.
O oficial de registro só poderia abrir o registro imobiliário se o possuidor tivesse promovido a revalidação do seu título de posse ou registro paroquial junto à repartição de terras públicas, artigos 3º, 4º e 5º da Lei 601/1850, no caso da Transcrição nº 133, só consta como título de origem um registro paroquial, que de acordo com os artigos 93 e 94 da Lei de Terras não possuía aptidão para caracterizar o domínio e não poderia ensejar a abertura do registro imobiliário.
Com efeito, o registrador tinha obrigação legal de conferir as normas vigentes na abertura do registro da transcrição imobiliária, e sem o título hábil não se poderia dar ensejo ao registro. Essa é a conclusão da jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) [2] e do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) [3].
Desta forma, se o oficial de registro não podia abrir a referida transcrição imobiliária, resta evidenciado o erro ou culpa, que induziram a erro os adquirentes dos imóveis.
Os adquirentes das terras foram comprando seus imóveis ao longo destes anos através de escrituras públicas devidamente registradas no folio real, recolhendo impostos intervivos, causa mortis e ITR, em favor do Estado, sem que houvesse qualquer restrição ou informação nos registros imobiliários. Os compradores, terceiros de boa-fé, não sabiam que sobre aquele registro pairava suspeita de vício na origem da cadeia dominial, há casos em que o Estado demorou mais de cem anos para dar entrada na ação discriminatória.
O erro e a culpa do oficial registrador ao não observar as regras para abertura da Transcrição nº 133 são notórios e comprova o nexo de causalidade entre a conduta culposa do agente e os danos experimentados pelos proprietários, que estão tendo suas matrículas canceladas e correndo o risco de perder o imóvel.
Não há qualquer dúvida que o oficial de registro procedeu em desconformidade com o que determinava a legislação. E como os serviços de registros são exercidos por delegação pública [4], o Estado de São Paulo é o grande culpado pela conflagração fundiária que assombra o Pontal do Paranapanema, seja porque demorou muito tempo para buscar resolver o problema, seja porque não fiscalizou os cartórios.
O Estado busca transferir sua responsabilidade para os proprietários que muitas vezes não recebem a indenização pela perda de suas terras, imóveis adquiridos com fulcro na fé pública dos registros imobiliários, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.935/94 e artigo 19, II da Constituição Federal.
Nesses termos, a nova Lei de Regularização paulista nº 17.557/2022 é um alento aos proprietários rurais. Mas no a PGE insista na retomada dos imóveis. A Constituição estabelece a responsabilidade civil objetiva e solidária do Estado no dever de indenizar:
“Artigo 37 (…)§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
O STF (Supremo Tribunal Federal) assentou tese de repercussão geral, obrigando o Estado a indenizar as vítimas por atos praticados pelos oficiais de registro que no exercício da sua função causem prejuízos a terceiros, exatamente como no caso das terras do Pontal do Paranapanema, Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, devendo os tribunais e juízes obedecerem a orientação:
“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”
A responsabilidade do Estado por atos irregulares praticados pelos registradores existe desde a codificação anterior. O artigo 15 do Código Civil de 1916 [5] trazia redação semelhante ao atual artigo 43 [6], e o STF no RE nº 116.662, relator ministro Moreira Alves, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado quando presente a culpa do registrador, aliás no Brasil nunca vigorou a irresponsabilidade total do Estado, mesmo quando não havia legislação legal específica, a responsabilização já era aceita como princípio fundamental (CAVALIERI FILHO, 2008) [7], e na lição de Pedro Henrique Baiotto Noronha [8].
Assim os proprietários que tiverem suas terras declaradas devolutas e suas matrículas imobiliárias canceladas, devem buscar a reparação integral de seu prejuízo, na esteira desta fundamentação em sintonia com os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, e a indenização deve ser total e corresponder ao valor de mercado da terra nua e das benfeitorias, com direito de retenção até que os valores sejam efetivamente pagos pelo Estado.
[1] REsp nº 1744310/SP – relator ministro Mauro Campbell Marques.
[2] REsp 389.372/SC, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, unânime, 04 de junho de 2009.
[3] CGJSP nº 10.819/96.
[4] Constituição Federal artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
[5] Artigo 15. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.
[6] Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
[7] CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
[8] RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO BRASILEIRO encontrado: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/a-responsabilidade-civil-do-estado-no-direito-brasileiro/
Fonte: Conjur
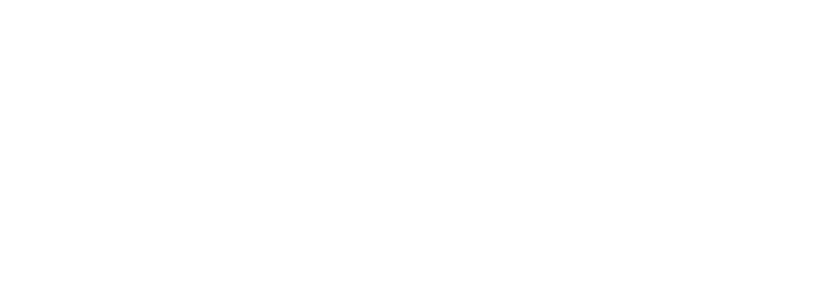
 A situação é configurada quando rendimentos são originalmente apurados pela pessoa jurídica (PJ) – sobre a qual incide IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, apenas para mencionar os tributos federais – e a fiscalização, a partir da constatação de elementos como ausência de propósito negocial, simulação, inadequação da entidade eleita, etc., reclassifica-os como rendimentos recebidos pela pessoa física (PF).
A situação é configurada quando rendimentos são originalmente apurados pela pessoa jurídica (PJ) – sobre a qual incide IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, apenas para mencionar os tributos federais – e a fiscalização, a partir da constatação de elementos como ausência de propósito negocial, simulação, inadequação da entidade eleita, etc., reclassifica-os como rendimentos recebidos pela pessoa física (PF).

