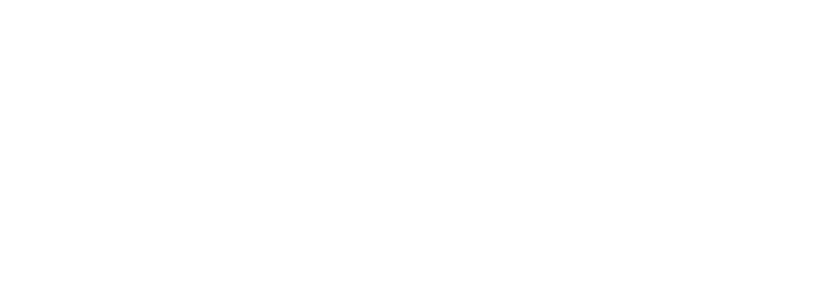A reforma tributária representava a oportunidade de corrigir uma relevante distorção da não cumulatividade no sistema de tributação sobre o consumo: a quebra da cadeia creditícia quando há etapas isentas ou imunes intermediárias na cadeia produtiva. Contudo, desde a Emenda Constitucional nº 132/2023 até a regulamentação pela Lei Complementar nº 214/2025, optou-se por perpetuar o mesmo vício estrutural que existia no ICMS, PIS/Cofins e IPI.
É verdade que a reforma trouxe melhorias significativas na técnica da não cumulatividade. O artigo 156-A, §1º, VIII, da Constituição estabeleceu um creditamento amplo sobre todas as operações, ressalvando apenas os bens de uso e consumo pessoais e as hipóteses constitucionais específicas, superando, a princípio, os debates inerentes ao ICMS, IPI e PIS/Cofins de crédito físico, financeiro e conceito de insumo.
Essa previsão, por si só, já representaria um avanço substancial em relação ao sistema anterior. No entanto, a nova sistemática reincide na citada falha estrutural: quando uma etapa intermediária da cadeia produtiva é beneficiada com isenção ou imunidade, ocorre a chamada “quebra da cadeia creditícia”, tendo como consequência o cancelamento do crédito concedido nas operações anteriores. O resultado é o ressurgimento do indesejável efeito cascata que a técnica da não cumulatividade deveria definitivamente eliminar, na medida em que o tributo pago nas operações anteriores não é mais neutralizado. Este problema, longe de ser corrigido pela reforma, foi constitucionalizado e detalhadamente regulamentado, transformando um defeito sistêmico em regra permanente do ordenamento jurídico brasileiro.
O problema não surgiu apenas com a LC nº 214/2025. A própria emenda constitucional já trouxe em seu bojo a perpetuação desta distorção ao estabelecer, no artigo 156-A, §7º, que “a isenção e a imunidade: I – não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes; II – acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores”.
Esta disposição constitucional revela uma escolha legislativa questionável. O constituinte reformador tinha em suas mãos a chance de estabelecer uma não cumulatividade verdadeiramente plena, mas preferiu constitucionalizar essa limitação que já existia no sistema anterior. A LC nº 214/2025, por sua vez, apenas regulamentou aquilo que a Constituição já havia determinado. Os artigos 49, 51 e 52 da nova lei são o desdobramento do comando constitucional, estabelecendo como deve operar a quebra da cadeia creditícia.
Exemplo para demonstrar o problema na reforma
Para compreender o problema, considere uma cadeia produtiva típica onde uma etapa intermediária seja isenta e hipoteticamente que a alíquota do IBS/CBS seja de 10%: a empresa A vende insumos para a empresa B, cobrando normalmente R$ 100 de mercadoria mais R$ 10 de IBS/CBS, totalizando R$ 110. A empresa B, contudo, é beneficiária de isenção tributária — por exemplo, produz medicamentos. Ao vender seu produto para a empresa C por R$ 200, não haverá IBS/CBS por estar isenta. Neste ponto, ocorre a primeira distorção: B perde definitivamente o crédito de R$ 10, conforme determina o artigo 51 da LC nº 214/2025.
A empresa C, por sua vez, ao comprar de B por R$ 200, não obterá qualquer crédito desta operação, pois a venda foi isenta e o crédito da primeira operação da cadeia (de A para B) foi anulado (artigo 49). Quando C vender seu produto final por R$ 300 ao consumidor, cobrará os R$ 30 de IBS/CBS integralmente, sem poder se creditar das operações anteriores.
O resultado é devastador para a lógica da não cumulatividade: onde deveria haver apenas R$ 30 de tributo total na cadeia (10% sobre o valor final de R$ 300), temos efetivamente R$ 40 — os R$ 10 perdidos por B mais os R$ 30 pagos no fim da cadeia. Essa distorção não fica restrita ao aspecto técnico-tributário: os R$ 10 excedentes serão inevitavelmente repassados ao preço final, onerando o consumidor com custos tributários que um sistema de não cumulatividade plena deveria eliminar, e tornando mais oneroso um produto cujos compostos (cadeias anteriores) deveriam ter um benefício.
Efeito cascata até o consumidor final
Esta sistemática mantém o efeito cascata nessa espécie de cadeia. O valor perdido na etapa isenta se propaga até o consumidor final, onerando a cadeia produtiva com exatamente aquele custo adicional que os modernos sistemas de IVA foram concebidos para evitar.
Mais grave ainda: o efeito cascata parcial distorce as decisões econômicas dos agentes, violando o atualmente expresso princípio da neutralidade tributária (artigo 156-A, § 1º, da CF e artigo 2º da LC nº 214/2025), o qual estabelece que os tributos “devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica”. Contudo, a manutenção da anulação de créditos nas etapas isentas e imunes gera exatamente as distorções que o próprio legislador buscou evitar. A empresa C, conhecedora da sistemática, pode preferir comprar de fornecedores não isentos para preservar seus créditos, prejudicando justamente aqueles setores que a política pública pretendia beneficiar através das isenções.
O paradoxo é evidente: ao conceder uma isenção para beneficiar determinado setor, o sistema acaba por torná-lo menos atrativo como fornecedor, contrariando os objetivos da política tributária implementada.
Manutenção de créditos em operações de alíquota zero
Uma solução técnica para este problema já estava ao alcance do legislador brasileiro. A própria LC n.º 214/2025 oferece o mecanismo adequado ao estabelecer, no artigo 52 que, “no caso de operações sujeitas a alíquota zero, serão mantidos os créditos relativos às operações anteriores”. Esta disposição demonstra que o legislador tinha plena consciência de que a anulação de créditos viola a lógica da não cumulatividade.
A adoção da alíquota zero em substituição às isenções resolveria grande parte do problema, preservando a cadeia creditícia e eliminando o efeito cascata parcial. Contudo, o legislador optou por manter a sistemática restritiva para isenções e, mais gravemente, para as imunidades. Estas últimas, por derivarem diretamente da Constituição, apresentam uma dificuldade adicional: não podem ser simplesmente convertidas em alíquota zero por lei.
O resultado é uma diferenciação artificial e economicamente injustificável entre institutos que, na prática, produzem o mesmo efeito — a desoneração da operação —, mas com impactos completamente distintos sobre a cadeia creditícia.
Violação da neutralidade fiscal
A neutralidade fiscal pressupõe que as decisões empresariais sejam baseadas em critérios de eficiência econômica, não em considerações tributárias. Quando uma empresa precisa avaliar se deve comprar de um fornecedor isento (perdendo créditos) ou de um fornecedor tributado (mantendo créditos), sem uma justificativa constitucionalmente razoável para tanto, o tributo deixa de ser neutro e passa a influenciar artificialmente a organização da atividade econômica.
Esta violação da neutralidade é ainda mais grave por atingir setores considerados prioritários pela própria política pública. Saúde, educação e outros segmentos contemplados com benefícios fiscais podem ser prejudicados em sua competitividade caso atuem como fornecedores, contrariando a lógica que deveria orientar um sistema tributário moderno e eficiente.
A reforma, que poderia ter eliminado esse problema da não cumulatividade nas etapas isentas e imunes, optou por mantê-lo vivo e até mesmo constitucionalizá-lo. O resultado é um sistema que, embora superior ao anterior, carrega consigo as distorções do passado vestidas com roupagem constitucional. A quebra da cadeia creditícia continuará onerando consumidores, distorcendo decisões empresariais e contrariando os próprios objetivos de neutralidade que a nova sistemática objetiva perseguir.
—
Fonte: Conjur