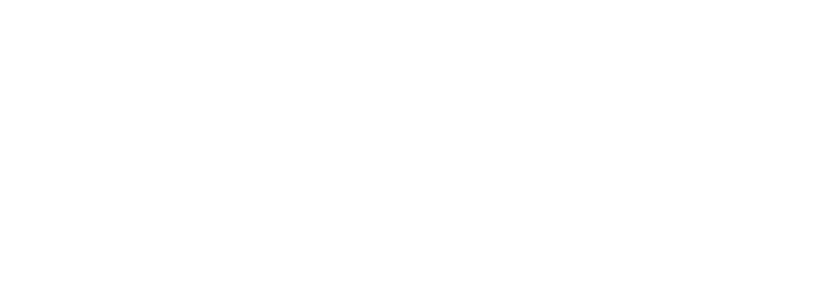As transformações tecnológicas depois da década de 1990 tornaram-se um divisor entre dois mundos: um digital, em plena expansão, e outro analógico, em retração. O mundo caminha a passos cada vez mais largos a uma versão digital, onde os estados muitas vezes se veem pequenos diante das grandes empresas de tecnologia.
Com a dificuldade de atuação estatal para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e o acesso à informação, nos deparamos com uma situação nova, que pode destruir reputações, influenciar em tomadas de decisões importantes em estados, determinar o rumo de eleições e afetar até mesmo a saúde pública. As fake news já são por muitos consideradas uma epidemia, colocando em situação de risco a confiança nas informações e manipulando a opinião pública.
No período da Segunda Guerra Mundial as nações em guerra utilizavam suas máquinas de propaganda para incentivar sua população e dissuadir o inimigo, criando-se verdadeiras realidades paralelas que possibilitaram situações como o Holocausto. Nessa época iniciaram-se estudos para tentar entender a ação e os efeitos dessas informações.
O investigador Knapp em 1944 publicava e analisava os efeitos desse tipo de desinformação com um estudo que vai à luz na revista de investigação Public Opinión Quarterly.
Dois anos mais tarde, os famosos estudiosos Allport e Postman centravam-se em outro artigo da mesma publicação — em questionar como algumas notícias tiveram um efeito depressivo para a população civil. As notícias da época em que a combinação de rumores com a consequente propaganda estatal criavam realidades falsas. Constituía-se como um problema social de primeira ordem.
As investigações na época concluíram que tais rumores tratavam de se apresentar sempre como verdadeiro o que queria difundir-se. “Portanto, é uma declaração que se apresenta como verdadeira sem que existam dados concretos que permitam validar ou verificar a sua exatidão.”
Como mencionado, as notícias falsas e seus efeitos nas sociedades são uma questão antiga, entretanto, sua conjugação com as novas tecnologias informativas faz com que seu avanço e efeito seja muito mais agudo e abrangente, produzindo em pouco tempo desequilíbrio social, podendo gerar situações catastróficas, como por exemplo, o caso das fake news sobre as vacinas contra a Covid-19.
No Brasil e no mundo buscam-se formas de impedir que a avalanche de notícias falsas prejudique as sociedades, utilizando-se de sanções na esfera cível e administrativa, bem como aprovando legislações para a regulação das redes. Entretanto, verifica-se que as ações até então adotadas não estão sendo capazes de coibir a prática de produzir, divulgar e financiar a produção de notícias falsas.
O Estado tem tentado impedir o crescimento das fake news, utilizando as ferramentas que possuem para controlar sua difusão. A utilização do direito civil para a reparação de danos e retirada de conteúdos falsos ou ilegais tem funcionado até certo ponto, porém, verificamos que a grande quantidade de notícias falsas e a dificuldade de muitas vezes chegar-se à pessoa do difusor são uma barreira para a aplicação dessas ferramentas.
A aplicação do direito penal em situações relacionadas as fakes news atualmente se dá na maioria dos casos quando há violação do direito a honra, difamação, calúnia ou a contravenção penal de provocar alarma, com aplicação de sanções muito brandas, como a prevista para o crime de calúnia (artigo 138 do CP), que é de seis meses a dois anos de detenção.
Por este panorama inicial, e em análise preliminar, verifica-se que os demais ramos do direito, e a previsão penal existente relacionada aos crimes contra honra e que não se aplicam a maioria dos casos, são ineficazes para a proteção de bens jurídicos relevantes, e, principalmente, para a proteção da própria informação que é prevista como garantia constitucional (artigo 220, CF/88). Havendo um descrédito generalizado quanto as informações, em razão da proliferação descontrolada de notícias falsas que buscam se passar por verdadeiras, estaríamos colocando em risco a própria existência do Estado democrático de Direito.
Por tais fatos, o Senado, quando dos debates ocorridos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, deliberou pela necessidade de proteção especial — ao que entendemos ser ao bem jurídico informação —, vendo necessária e legítima a tipificação penal da ação de criar e difundir notícias falsas, surgindo desses debates o PL nº 3.813/21.
O projeto de lei busca acrescentar ao Código Penal no título dos crimes contra a paz pública, o artigo 288-B, visando penalizar quem cria ou divulga notícia sabidamente falsa: “Art. 288-B. Criar ou divulgar notícia que sabe ser falsa para distorcer, alterar ou corromper gravemente a verdade sobre tema relacionado à saúde, à segurança, à economia ou a outro interesse público relevante”.
O PL em comento, formalizado em período de pandemia, onde proliferavam-se a veiculação por meio das redes sociais de notícias falsas acerca da própria pandemia, seus efeitos, formas de conter o contágio e até mesmos negacionistas, que questionavam a existência do coronavírus e a eficácia das vacinas. Situações extremas que levaram a sociedade que já vivia em situação de grave restrição, a indagar e discutir abertamente os limites da liberdade de veicular informação.
A tipificação da conduta de criar e divulgar fake news é um fato jurídico, visto que, mesmo que ainda não colocado em votação o Projeto de Lei nº 3.813/21, este é manifestamente um propulsor para que analisemos a tipificação das fake news, diante da proposta legislativa.
Verificamos que o proposto artigo 288-B do Código Penal não se caracterizaria como sendo um tipo penal meramente formal, mas exige a existência de dolo específico para a sua aplicação, que entendemos estar caracterizado pela necessidade de conhecimento da falsidade da notícia, ou seja, a intenção deliberada de enganar criando ou divulgado o falso, com aspecto de verdadeiro, e como se verdade fosse. Existe aí a tipicidade material, o efetivo risco ao bem jurídico protegido, que ao nosso ver é a garantia constitucional da informação.
Esse conhecimento da falsidade exigido para a caracterização da conduta típica, limita a penalização a apenas aqueles que comprovadamente deturpam e violam a informação, utilizando esta garantia constitucional, para manipular e lesar toda a coletividade.
O conhecimento da falsidade se apresenta como uma questão processual, ou seja, probatória, que deverá ser apurada para que se chegue a possibilidade de adequação a tipificação prevista, excluindo da penalização aquele que desconhecendo a falsidade divulga a informação, é, portanto, a expressão “sabe ser falsa” uma limitação a tipificação, protegendo aquele que inadvertidamente compartilha uma informação que acreditava ser verdadeira.
Verificamos no PL 3.813/21 a existência de diversos elementos normativos como “alterar ou corromper gravemente” , que exigem uma análise valorativa para a aplicação do tipo penal, que seria entender se houve alteração ou corrompimento substancial a informação criada ou divulgada, acrescentando-se que esse corrompimento ou alteração seria grave o suficiente para que a informação seja recebida como verdadeira, ao ponto de ter condições de manipular a opinião pública.
Objetivamente o tipo penal proposto pelo PL n. 3.813/21, indica a aplicação a violações relacionadas à “saúde, à segurança, à economia”, limitando a abrangência do tipo, o que implicaria a sanção apenas a notícias falsas que alteram ou corrompem gravemente informações, manipulando a opinião pública quanto a temas relacionados à saúde, segurança e economia, elegendo o legislador essas áreas como de maior relevância a proteção da informação veraz, pois, é claro, que notícias falsas relacionadas a temas vitais a sociedade são muito mais danosos.
Elegendo objetivamente essas três áreas sensíveis, o legislador dá um passo a mais e acrescenta ao tipo penal tipo penal a conjunção “ou a outro interesse público relevante”, o que ao nosso ver possibilita ao julgador ultrapassar as áreas da saúde, economia ou segurança pública anteriormente eleitas, podendo estender a tipificação penal a qualquer fato relacionado a divulgação dolosa de notícia sabidamente falsa, criando uma ampla possibilidade de análise subjetiva quanto ao que seria interesse público relevante.
Entendemos que a existência da conjunção de elementos valorativos que criam tipos penais extremamente “flexíveis”, gerando insegurança jurídica ante o grau de subjetivismo, implicando ao cidadão depender do conceito de “interesse público relevante” que possui o julgador no momento da aplicação da lei penal, o que, ao nosso entender afastaria a proposta de tipificação penal dos fundamentos constitucionais que dão sustentação a teoria do bem jurídico, como por exemplo os princípio da dignidade da pessoa humana, da taxatividade penal e da reserva legal.
Por todos esses aspectos aqui introdutoriamente traçados, entendemos como extremamente relevante a ação legislativa na propositura do PL nº 3.813/21, pois de fato existe uma necessidade social em conter a difusão de notícias falsas, demonstrando-se que a sua incidência tem trazido prejuízos e insegurança a sociedade. Poderíamos discutir a proteção de qual bem jurídico se destina o tipo penal, ou ainda, tecermos críticas a expressões extremamente abertas que possibilitam uma análise amplamente subjetiva quanto a aplicação do tipo penal, todavia, esses questionamentos que certamente virão em um debate muito mais amplo, não excluem o mérito da proposta, que é de grande importância, mostrando-se o legislador atento quanto a nossa realidade social e os novos dilemas que nos aportam o desenvolvimento das tecnologias.
Fonte: Consultor Jurídico