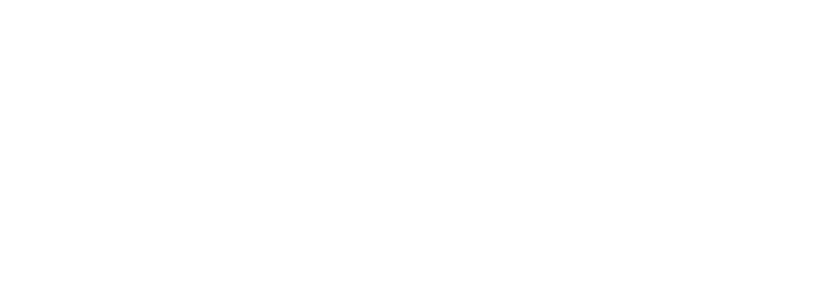É cada vez mais frequente a situação de pequenas e médias empresas optantes pelo Simples Nacional que, diante da necessidade de regularização fiscal para permanecer no regime, buscam o reparcelamento de seus débitos tributários. Parte dessas dívidas já foi parcelada no passado; outra parte, surgida posteriormente, jamais integrou qualquer parcelamento. O cenário é comum, previsível e inerente à própria dinâmica de um regime baseado em fatos geradores contínuos.
Ao acessar o sistema da Receita Federal para formalizar o reparcelamento, entretanto, o contribuinte se depara com um obstáculo recorrente: a exigência de pagamento de 20% sobre o “total dos débitos consolidados”, calculado sem qualquer distinção entre débitos anteriormente parcelados e débitos nunca parcelados. O resultado prático é imediato: a entrada exigida torna-se elevada a ponto de inviabilizar a própria regularização que o sistema diz permitir.
A resposta administrativa costuma ser curta e aparentemente irrefutável: “a norma fala em total dos débitos consolidados”.
O problema é que essa leitura, embora simples, não é verdadeira à luz da própria estrutura normativa que rege o reparcelamento no Simples.
Problema não começa no cálculo, mas no conceito
O reparcelamento no Simples Nacional não é um instituto criado pela Instrução Normativa da Receita Federal. Ele decorre do regulamento do regime e possui contornos normativos próprios.
O artigo 55 da Resolução CGSN nº 140/2018 estabelece, com clareza textual:
“No âmbito de cada órgão concessor, serão admitidos reparcelamentos de débitos no âmbito do Simples Nacional constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido.”
A opção legislativa é inequívoca. O texto não se refere a reparcelamento do contribuinte, da empresa ou da dívida global, mas a reparcelamentos de débitos. O objeto do instituto é o débito individualizado, considerado à luz do seu histórico jurídico. Não se “re-parcela” aquilo que nunca foi parcelado. Essa conclusão é lógica antes de ser jurídica.
A IN RFB nº 1.981/2020, ao disciplinar o reparcelamento no âmbito federal, apenas reproduz essa delimitação:
“(…) será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido, hipótese em que o contribuinte deverá desistir expressamente de eventual parcelamento em vigor.” (art. 1º, §2º)
Somente após essa definição conceitual é que surge a disciplina financeira:
“O deferimento do pedido de reparcelamento a que se refere o § 2º fica condicionado ao recolhimento da primeira parcela, cujo valor deverá corresponder:
I – a 10% do total dos débitos consolidados; ou
II – a 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior” (artigo 1º, §3º).
Essa sequência não é retórica. Ela revela a arquitetura lógica da norma: primeiro, define-se o universo jurídico do reparcelamento; depois, quantificam-se seus efeitos financeiros.
Silogismos simples revelam o erro interpretativo
A controvérsia se dissipa quando o texto normativo é lido com método.
Primeiro silogismo: quem pode ser reparcelado
Premissa normativa: apenas débitos “constantes de parcelamento em curso ou rescindido” podem ser reparcelados.
Premissa lógica: débitos nunca parcelados não satisfazem essa condição.
Conclusão: débitos jamais parcelados não podem ser juridicamente reparcelados.
O reparcelamento, portanto, é qualidade do débito, não estado da pessoa.
Segundo silogismo: o alcance da base de cálculo
Premissa normativa: o §3º regula o pedido de reparcelamento definido no §2º.
Premissa lógica: a base de cálculo quantifica os efeitos de uma situação jurídica já reconhecida.
Conclusão: o “total dos débitos consolidados” refere-se apenas aos débitos que integram o reparcelamento juridicamente admitido.
Qualquer leitura diversa permite que o consequente da norma — o cálculo — crie o próprio fato jurídico que autoriza sua incidência, subvertendo a lógica normativa.
Quando o cálculo passa a criar a causa
É exatamente isso que ocorre quando a administração inclui, na base de cálculo da entrada agravada, débitos que jamais foram parcelados. A base de cálculo deixa de medir efeitos e passa a redefinir o próprio instituto.
O erro não é de política fiscal, mas de estrutura jurídica: o efeito passa a criar a causa.
Números tornam a distorção visível
A fragilidade da interpretação administrativa torna-se ainda mais evidente quando o debate é trazido para o plano concreto dos números. Considere-se um exemplo simples, mas absolutamente recorrente na prática: uma empresa possui R$ 100 mil em débitos no Simples Nacional. Desse montante, R$ 5 mil correspondem a débitos com histórico de dois ou mais parcelamentos anteriores; R$ 45 mil referem-se a débitos que foram objeto de apenas um parcelamento; e os R$ 50 mil restantes jamais foram parcelados, tratando-se de obrigações novas, sem qualquer histórico de negociação.
Pela leitura administrativa hoje predominante, basta a existência de um débito com histórico de reparcelamento para que se aplique, de forma indistinta, o percentual agravado de 20% sobre o total dos débitos consolidados, sem qualquer distinção quanto à natureza ou ao histórico de cada obrigação. Nesse cenário, a entrada exigida para formalização do reparcelamento seria de R$ 20 mil, valor calculado exclusivamente a partir da soma aritmética do passivo, como se todos os débitos compartilhassem a mesma qualificação jurídica.
Essa conclusão, porém, não resiste à leitura correta do texto normativo. Aplicando-se a disciplina do reparcelamento segundo a qualidade jurídica de cada débito — como exige a própria expressão “reparcelamentos de débitos” —, o resultado é substancialmente distinto. Sobre os R$ 5 mil efetivamente reparcelados, incide o percentual de 20%, totalizando R$ 1 mil. Sobre os R$ 45 mil que foram parcelados apenas uma vez, aplica-se o percentual ordinário de 10%, resultando em R$ 4.500. Já os R$ 50 mil em débitos que jamais foram parcelados não podem, por impossibilidade lógica e normativa, integrar o reparcelamento e, portanto, não compõem a base de cálculo da entrada.
Nesse cenário, a entrada juridicamente devida seria de R$ 5.500, valor quase quatro vezes inferior ao montante exigido pela leitura administrativa ampliativa. Mesmo numa interpretação mais conservadora — que aplicasse o percentual de 20% apenas sobre o conjunto dos débitos com algum histórico de parcelamento, excluindo apenas aqueles jamais parcelados — a entrada alcançaria R$ 10 mil, ainda assim significativamente inferior aos R$ 20 mil cobrados pelo sistema.
Os números deixam claro o ponto central do debate: não se trata de afastar o pagamento nem de flexibilizar a política arrecadatória, mas de impedir que a base de cálculo seja utilizada como instrumento de ampliação indevida do próprio instituto do reparcelamento. Quando débitos sem histórico são incluídos no cálculo da entrada agravada, o reparcelamento deixa de ser mecanismo de regularização e passa a funcionar como sanção automática, fundada em mera agregação matemática, e não na estrutura normativa que o regula.
Verdade normativa se impõe pela coerência
Não se discute aqui a exigência de entrada nem a política arrecadatória. Discute-se a fidelidade ao texto normativo. A expressão “reparcelamentos de débitos” delimita semanticamente o instituto. A base de cálculo não tem função constitutiva; apenas mede efeitos.
Quando a interpretação administrativa transforma o reparcelamento em estado permanente do contribuinte e trata todo o passivo como se compartilhasse o mesmo histórico, ela dissolve o conceito jurídico do instituto e cria uma sanção indireta não prevista na norma.
Conclusão do encadeamento silogístico
Da leitura literal, sistemática e logicamente encadeada dos artigos 1º, §§2º e 3º, da Instrução Normativa RFB nº 1.981/2020, resulta inequívoco que o “total dos débitos consolidados” relevante para fins de reparcelamento é, necessariamente, o total dos débitos consolidados que integram o reparcelamento admitido pelo §2º, estando excluídos aqueles que jamais foram parcelados, pois não podem, por impossibilidade lógica e normativa, ser qualificados como objeto de reparcelamento.
O post A distorção do reparcelamento no Simples Nacional apareceu primeiro em Consultor Jurídico.