O Supremo Tribunal Federal começa o ano de 2025 retomando e iniciando o julgamento de uma série de casos relevantes, como a possibilidade de responsabilização das plataformas por conteúdos de usuários e a violência policial no Rio de Janeiro.
A pauta de fevereiro já foi definida. Haverá a continuidade do julgamento sobre a validade de provas obtidas a partir de revistas íntimas em presídios e a responsabilização de jornais por falas de entrevistados.
Para além dos temas já agendados, a apuração sobre atos golpistas em 2022, que até então mirou apenas executores, deve, enfim, chegar aos mentores e instigadores.
Também devem avançar na corte as discussões sobre emendas parlamentares, e sobre o vínculo empregatício entre plataformas e motoristas e entregadores de aplicativos, como Uber e IFood.
Ordem do dia
Alguns dos julgamentos já começaram e serão apenas retomados no Supremo. É o caso da discussão sobre a possibilidade de responsabilização das big techs por conteúdos de terceiros. O caso até o momento tem três votos admitindo, de modos distintos, a possibilidade de responsabilizar as plataformas.
Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso já votaram, todos entendendo pela insuficiência do artigo 19 do Marco Civil da Internet para conter conteúdos criminosos nas plataformas. O dispositivo prevê a responsabilização das plataformas só quando descumprirem decisão judicial, determinando a retirada de conteúdos.
O caso foi paralisado por um pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça em 18 de dezembro. Na sessão, Barroso afirmou que pretende pautar o caso já após o retorno do recesso.
Em novembro do ano passado, Barroso também sinalizou que a análise sobre mentores e instigadores dos atos golpistas de 8 de janeiro pode chegar à corte em 2025. Segundo ele, as apurações estão perto da conclusão para que sejam encaminhadas à Procuradoria-Geral da República.
A investigação é importante, porque a corte deve chegar a empresários que patrocinaram os golpistas e a integrantes do governo passado — podendo incluir o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Emendas e anistia
O Supremo também deve ampliar a análise sobre a destinação de emendas parlamentares. No ano passado, o ministro Flávio Dino chegou a bloquear os repasses, mas liberou com uma série de condições de transparência. Também devolveu parte do controle sobre o orçamento ao Executivo.
O ministro quer que o Supremo discuta se o crescente valor empenhado nas emendas parlamentares fere o princípio da separação dos poderes. A ideia é levar o tema para o Plenário.
O ministro também pode recolocar em discussão um tema espinhoso: Lei de Anistia (Lei 6.683/1979). Em dezembro, o ministro se manifestou pela repercussão geral do julgamento sobre a possibilidade ou não de se anistiar o crime de ocultação de cadáver durante a ditadura militar.
Na manifestação, Dino afirmou que o mérito deve definir se a ocultação de cadáver é ou não um crime anistiável, dada a sua natureza de crime permanente.
Outros dois temas relevantes podem ser analisados este ano: o vínculo entre motoristas de plataformas com a Uber, e três ações que questionam a Lei das Bets. No primeiro caso, o STF, sob o comando de Fachin, já fez uma audiência pública para ouvir representantes de plataformas, de motoristas e entregadores, além de especialistas.
Por fim, deve ser julgado já no início deste ano a ação contra os acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O que já está pautado
A corte divulgou os casos que devem ser julgados em fevereiro. A abertura do ano do Judiciário será com a análise da validade ou não de provas colhidas em revistas íntimas em presídios. O caso começou a ser analisado virtualmente no Supremo, quando se formou maioria pela inconstitucionalidade das revistas, mas recomeça em 5 de fevereiro no Plenário físico.
Está agendado para o mesmo dia o julgamento da ADPF das favelas. De relatoria do ministro Edson Fachin, o caso discute operações policiais violentas no Rio de Janeiro.
Em 19 de janeiro, os ministros devem votar um ajuste na tese de repercussão geral que definiu que jornais podem ser responsabilizados por falas de entrevistados. Fachin, relator do processo, sugeriu alterações na tese firmada em 2023. Os pontos serão analisados pelos demais ministros.
Também está pautado para fevereiro o julgamento que decide os limites da atuação legislativa para disciplinar as atribuições das guardas municipais.
Confira a pauta de fevereiro:
5 de fevereiro
ARE 959.620: Supremo discute a validade de prova obtida a partir de revista íntima em unidade prisional;
ADPF 635: Pede que sejam reconhecidas e sanadas lesões a preceitos fundamentais da Constituição praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro na elaboração e implementação de sua política de segurança pública, notadamente no que tange à excessiva e crescente letalidade da atuação policial;
ADPF 777: Conselho Federal da OAB questiona portarias do governo Jair Bolsonaro, que anularam portarias declaratórias de anistiados políticos datadas de 2002 e 2005.6 de fevereiro
ADI 7.686: Discute a possibilidade de repatriação de crianças quando houver suspeita de violência doméstica.
12 de fevereiro
RE 1.298.647: Discute se o ente público tomador de um determinado serviço tem o ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas;
AO 2.417: Discute a cobrança de honorários contratuais de trabalhadores beneficiados por demandas coletivas, em que já havia honorários assistenciais estipulados pela Justiça do Trabalho;
RE 1.387.795: Discute se empresa integrante de grupo econômico pode ser incluída na fase de execução trabalhista mesmo quando não participou do processo de conhecimento.13 de fevereiro
ADI 3.596: PSOL questiona possibilidade de a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidir sobre a venda de bloco petrolíferos;
RE 608.588: Discute o limite da atuação legislativa dos municípios para definir a atuação das guardas municipais.19 de fevereiro
RE 1.075.412: Rediscussão sobre a tese que definiu que jornais podem ser responsabilizados civilmente por falas de entrevistados;
RE 1.133.118: Discute a constitucionalidade da nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para o exercício de cargo público;
MS 26.156: Questiona decisões do Tribunal de Contas da União na análise de registro de aposentadorias e pensões de docentes da Fundação Universidade de Brasília;
ADI 3.228: Questiona a Constitucionalidade dos artigos 6 e 13 de lei do Espírito Santo sobre gratificações pagas a membros do Ministério Público.20 de fevereiro
ADI 6.757:PGR: Questiona Lei de Roraima, que prevê que promoções por merecimento e antiguidade devem preceder a remoção de magistrados;
ADI 4.055: PGR: Questiona reserva de cargos em comissão para servidores efetivos prevista em emenda do DF.26 de fevereiro
RE 882.461: Discute a incidência e ISS em operação de industrialização por encomenda, além da limitação do percentual de 20% em multa moratória;
RE 5.860.68: Embargos contra decisão do STF, segundo a qual as decisões definitivas de juizados especiais podem ser anuladas quando fundamentadas em norma ou interpretação posteriormente considerada inconstitucional pelo Supremo.27 de fevereiro
ADPF 338: Discute a constitucionalidade do artigo 141 do Código Penal, que estabelece como causa de aumento da pena de crimes contra a honra o fato de terem sido cometidos contra servidor no exercício da função;
ADIs 6.238, 6.302, 6.266, 6.236 e 6.239: Discutem dispositivos sobre crimes de abuso de autoridade praticados por funcionários públicos.
Extra pauta
Além dos casos já pautados, o Supremo deve julgar, em 2025, no ARE 1.480.888, a competência da Anvisa para regulamentar a propaganda de alimentos nocivos à saúde.
Especialistas consultados pela revista eletrônica Consultor Jurídico também afirmaram que a corte deve analisar a cobrança de IRPJ e CSLL sobre empresas nacionais a partir de lucros auferidos no exterior (RE 870.214); os limites da quebra de sigilo de um conjunto indeterminado de trabalhadores; e o acordo sobre o Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas.
Maria Helena Autuori, sócia do escritório Autuori Burmann Sociedade de Advogados, destaca também casos trabalhistas que a corte sinalizou que devem ser pautados para 2025. Entre eles estão a ADC 80, que pede para que a comprovação de renda de até 40% do teto da Previdência seja suficiente para a concessão de Justiça gratuita; e a ADI 6.142 e sobre a equiparação da dispensa coletiva à dispensa individual.
Já Priscila Soeiro Moreira, especialista em Direito do Trabalho, sócia do escritório Abe Advogados, diz que devem ser definidas ainda este ano controvérsias em torno da Reforma Trabalhista de 2017. Ela destaca a ADI 6.002, que discute se a exigência processual de atribuir ao trabalhador o ônus de mensurar o valor da demanda pode ou não ser óbice ao acesso à Justiça.
A Ordem também questiona a legalidade de dispositivo da CLT introduzido pela reforma, segundo o qual a inicial de reclamação trabalhista deve indicar o valor do pedido no momento da execução.
O post Big techs, emendas, golpe e bets: saiba o que está no radar do STF em 2025 apareceu primeiro em Consultor Jurídico.
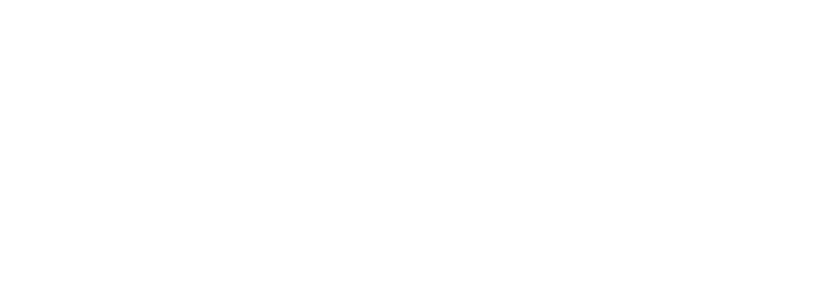


 A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença da Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente (SP), proferida pelo juiz Darci Lopes Beraldo, que negou pedido de condomínio para manter galinhas-d’angola utilizadas para controle de pragas em áreas comuns do local. De acordo com os autos, após aprovação […]
A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença da Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente (SP), proferida pelo juiz Darci Lopes Beraldo, que negou pedido de condomínio para manter galinhas-d’angola utilizadas para controle de pragas em áreas comuns do local. De acordo com os autos, após aprovação […]