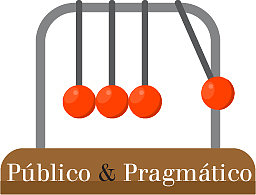A improbidade administrativa exige rigor probatório devido à gravidade das sanções envolvidas, como perda da função pública, suspensão de direitos políticos e eventual ressarcimento ao erário. Para assegurar a coerência do regime jurídico aplicável aos casos de improbidade, o Poder Judiciário tem estabelecido entendimentos que ressaltam a necessidade de provas sólidas e inquestionáveis, pois, como bem pondera Ivan Lira de Carvalho, no “âmbito do direito administrativo sancionador, ‘quase penal’, a condenação deve ser feita com base em provas sólidas, não sendo suficiente que o reconhecimento da prática de atos ímprobos seja feita apenas com base em indícios ou em meras ilações”. [1]
Ao mesmo tempo, a tentativa de ampliação das interpretações normativas criou uma interminável crise de segurança jurídica, ampliada pelo ativismo judicial e pela abertura conceitual e do exagero de algumas teorias “neoconstitucionalistas”.
Elementos sobre improbidade administrativa e questão da prova adequada
A Lei 8.429/92 regula os atos de improbidade administrativa, exigindo, para essa qualificação, dolo ou culpa comprovada, conforme o tipo de ato (enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação de princípios). Assiste razão ao entendimento de que a responsabilidade objetiva é inadmissível nesses casos, sendo imprescindível o elemento subjetivo da ação. E esse cuidado se justifica para evitar condenações que não estejam embasadas em uma análise rigorosa de conduta.
Nesse contexto, a condenação em ações de improbidade administrativa deve ser baseada em provas robustas e claras da prática eventual do ato e da presença de dolo. Presunções e indícios não são suficientes para justificar condenações, considerando a gravidade das consequências envolvidas, garantindo-se que o processo sancionador observe os princípios da tipicidade e da proporcionalidade, evitando o decisionismo baseado em análises subjetivas.
Por outro lado, infere-se a necessidade da presença concomitante da ilegalidade com má-fé, que corresponde ao “dolo”, conforme assenta o STJ há anos: “[…] O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do administrador, caracterizando a conduta dolosa; a aplicação das severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e mesmo recomendável, para a punição do administrador desonesto (conduta dolosa) e não daquele que apenas foi inábil (conduta culposa). […].” (STJ – REsp 1.248.529/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013).
A má-fé é elemento que deve ser comprovado (STJ – REsp 1.248.529/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 03.09.2013, DJe 18.09.2013).
O TRF-5 corrobora com essa perspectiva, ao interpretar que a improbidade administrativa, por envolver o caráter sancionador, demandando, pois, um conjunto probatório que fundamente as acusações com precisão, sob pena de configurar abuso interpretativo e de causar danos à segurança jurídica.
Edílson Nobre, ao relatar numerosos casos sobre o tema, explica a preocupação que deve orientar o intérprete: “[…] In casu, a parte autora não demonstrou a existência de prejuízo financeiro derivado da irregularidade mencionada, circunstância reconhecida pelo próprio voto condutor. – Provimento aos embargos infringentes.” (TRF-5ª – Eiac 2.460.201/PE, Relator Desembargador Federal Edílson Nobre, Pleno, j. 10.04.2013, DJE 24.04.2013).
Do voto do relator, também professor da Faculdade do Direito do Recife, extrai-se que:
“Com efeito, antes de examinar as condutas dos réus, merece ser frisada advertência de que, embora a ação de improbidade administrativa não possa ser equiparada a ação criminal, não se pode — de forma alguma — obscurecer que possui forte carga punitiva e de restrição de direitos. Isso é evidente. Daí decorre incidir, no exame da caracterização do ato ímprobo, o princípio da tipicidade. […]. Isso porque não cabe ao intérprete esquecer prestigiado método de interpretação, que é sistemático, mediante o qual o significado de um preceito é extraído da sua conjugação com as demais regras do diploma interpretado.”
Considerações finais
A instauração de processos sancionadores deve ser baseada em elementos concretos e sólidos, seja na esfera administrativa, cível ou penal. E isso porque não se pode admitir ilações e presunções de irregularidades quando se aponta eventual ato improbo. No atual estágio dos modelos jurídicos, deve ficar para o passado a prática de determinadas ordens jurídicas aliadas aos denominados “princípios do chefe” (Führerprinzip), oriundos de uma ideologia arbitrária que gera uma subjetividade de interpretação.
As práticas incoerentes com o due process of law devem ser controladas, seja em nome dos limites do Estado, seja para garantir estabilidade e previsibilidade, elementos essenciais da segurança jurídica, ressaltando-se, com Geraldo Ataliba, que “o direito é, por excelência, acima de tudo, instrumento de segurança. Ele é que assegura a governantes e governados os recíprocos direitos e deveres, tornando viável a vida social. Quanto mais segura a sociedade, tanto mais civilizada. Seguras são as pessoas que têm certeza de que o direito é objetivamente um e que os comportamentos do Estado ou dos demais cidadãos dele não discreparão”. [2]
A segurança jurídica está associada ao que se denomina de proteção da confiança, derivando-se da própria estruturação do Estado de direito, que se vincula à “preocupação com o conhecimento do direito aplicável, impondo que as respectivas fontes sejam públicas e prospetivas na sua vigência”.[3]
O Estado de direito requer que “o quadro normativo vigente não mude de modo a frustrar as legítimas expectativas geradas nos cidadãos acerca de sua continuidade, com a proibição de uma intolerável retroatividade das leis, assim como a necessidade de essa alteração de expectativas constitucionalmente tuteladas ser devidamente fundamentada”. [4] Ou seja,”a proteção da confiança pretende instituir um clima de estabilidade entre o poder público e os cidadãos destinatários dos respectivos atos”. [5]
O papel do Judiciário em ações de improbidade administrativa exige um equilíbrio entre o dever de punir e a segurança jurídica. A exigência de provas sólidas é fundamental para evitar abusos e para preservar os direitos individuais, especialmente em um contexto em que o ativismo judicial e o neoconstitucionalismo — da forma posta — tendem a minar a previsibilidade e a estabilidade das normas.
A crise de segurança jurídica poderá se agravar à medida em que o Poder Judiciário permitir a ampliação de sua atuação além dos limites previstos na legalidade e na tipicidade, comprometendo a efetividade das normas e a justiça baseada em regras claras. A necessidade de provas robustas em ações de improbidade administrativa não é apenas uma exigência processual, mas também uma medida essencial para proteger a segurança jurídica e garantir a efetiva justiça no âmbito do direito administrativo sancionador.
[1] TRF5 – PROCESSO: 00022329020134058103 – Ap. Cível 590216, Relator: Des. Federal Ivan Lira de Carvalho (CONVOCADO), Primeira Turma, j. 24/10/2019, p. DJE – Data:05/11/2019.
[2] Cf. Geraldo Ataliba. República e Constituição, p. 184. No mesmo sentido: “A previsibilidade da ação estatal, seja em que ato ou em que manifestação ela for baseada, é essencial para a liberdade de ação individual e para a ação empresarial. […] A segunda questão diz respeito à carência de confiabilidade do ordenamento jurídico (Unzuverlässigkeit der Rechtordung). O cidadão não sabe se a regra, que era e é válida, se esta ainda continuará válida. E, quando ele sabe disso, não está seguro se essa regra, embora válida, será efetivamente aplicada ao seu caso. Regras e decisões são, pois, inconstantes. O Direito não é sério – e também deixa de ser levado a sério.” Humberto Ávila. Segurança Jurídica no Direito Tributário – Entre Permanência, Mudança e Realização, pp. 59-61).
[3] Cf. Jorge Bacelar Gouveia. Direito da Segurança – Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo. Lisboa: 2018, p. 95.
[4] Cf. Jorge Bacelar Gouveia. Direito da Segurança – Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo. Lisboa: 2018, p. 95.
[5] Jorge Bacelar Gouveia. Direito da Segurança – Cidadania, Soberania e Cosmopolitismo. Lisboa: 2018, p. 95.
—
O post Impossibilidade de presunções e ilações no direito sancionador: necessidade de provas robustas na improbidade apareceu primeiro em Consultor Jurídico.