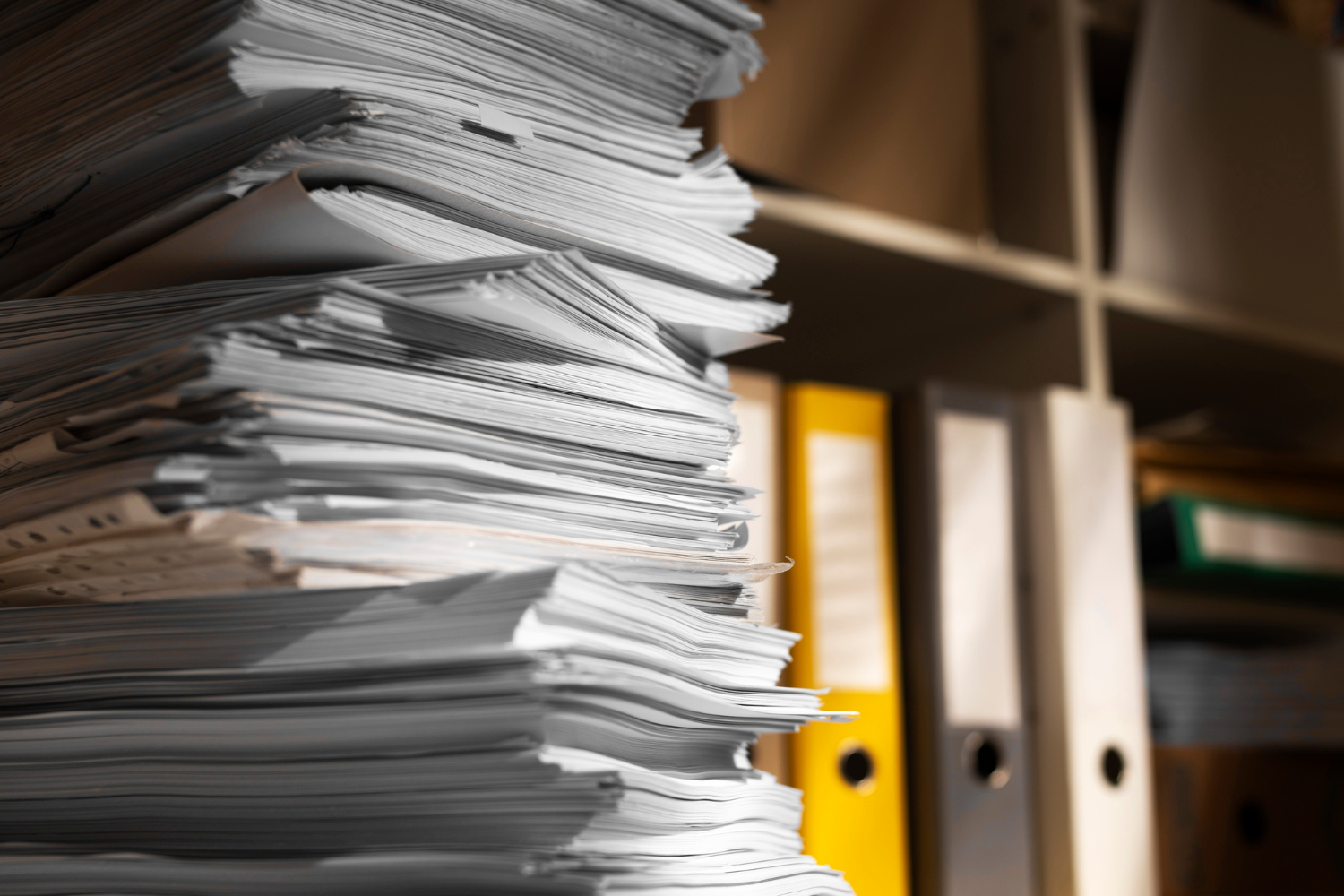Um alinhamento importante
Hoje, dia 17 de setembro de 2024, a partir das 21h41, brasileiros(as) de todo o país poderão ver um eclipse lunar. Para garantir o acesso de todos, o Observatório Nacional (ON), unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), irá transmitir o evento astronômico em seu canal no YouTube [1].
Segundo a gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (Dicop) do ON, Josina Nascimento, haverá, no evento, o alinhamento, nesta ordem, entre o Sol, a Terra e a Lua Cheia [2]. E, além desse eclipse lunar, parte da população brasileira poderá ainda acompanhar um eclipse solar em 2 de outubro de 2024 (claro, também transmitido pelo canal do ON!).
Mas não é exatamente desses alinhamentos importantes do mundo da física que trataremos aqui!
Existem alinhamentos importantes no mundo da regulação do comércio internacional, como o alcançado no pós-guerra, para se chegar ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt), ou o logrado ao final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Unilaterais, em 1994, que permitiu a criação da Organização Mundial do Comércio. A título exemplificativo, há ainda acordos regionais, como os referentes à União Europeia e ao Mercosul, frutos de um alinhamento característico de seu tempo (em timing perfeito/correto).
Nem sempre se reúnem as condições para que os “astros” (ou atores, no mundo biológico) estejam alinhados, com um propósito comum, buscando o desenvolvimento recíproco, e o bem comum. No mundo aduaneiro, um relevante evento nesses termos, apresentado a seguir, lançou as bases para promover um alinhamento que será de suma importância para o comércio exterior brasileiro, e para o incremento da participação de nosso país no comércio internacional: a divulgação de um anteprojeto de lei que busca alinhar a legislação de comércio exterior brasileira às melhores práticas internacionais.
Lei Geral de Comércio Exterior
Na última semana foi submetido à consulta de diversas entidades brasileiras relacionadas ao comércio exterior um anteprojeto, fruto da construção conjunta de especialistas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da Fazenda (MF), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE/Camex), ambas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e da Consultoria Legislativa do Senado, junto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e aos gabinetes dos senadores Renan Calheiros e Espiridião Amin, contemplando demandas dos operadores privados sobre normas gerais para o desempenho das atividades de regulação, fiscalização e controle sobre o comércio exterior de mercadorias.
Na minuta de justificação do documento, destaca-se que o comércio exterior de mercadorias, no Brasil, é disciplinado em mais de uma centena de normas de ordem legal, sendo a principal o Decreto-Lei nº 37/1966, que, à beira de seus sessenta anos de vigência, vem cumprindo a importante tarefa de disciplinar disposições relativas ao imposto de importação e à regulação dos serviços aduaneiros, entre outros temas.
No entanto, ainda segundo o texto da referida justificação, apesar das constantes atualizações ao citado decreto-lei, que se estendem à quase totalidade dos seus 172 artigos, restando apenas 42 deles hoje vigentes em sua redação original [3], as alterações no cenário internacional de comércio, o novo papel das aduanas no século 21 [4], e a necessidade de adequação da legislação nacional aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, principalmente na Convenção de Quioto Revisada (CQR), da Organização Mundial das Aduanas (OMA) [5], promulgada, no Brasil, pelo Decreto nº 10.276/2020, e no Acordo sobre a Facilitação do Comércio (AFC), da OMC [6], promulgado, no país, pelo Decreto nº 9.326/2018, demandam um remodelamento da disciplina geral do comércio exterior de mercadorias em nosso país, alinhado às melhores práticas internacionais.
De fato, o novo papel das aduanas, no século 21, é bem distinto daquele que se encontrava à época do Decreto-Lei 37/1966 (e dos primeiros anos da OMA, que ainda nem era conhecida por tal designação [7]), e se estende a diversas atividades que sequer eram cogitadas no século passado, como a preocupação do meio ambiente [8]. E a CQR/OMA e o AFC/OMC objetivam, ambos, aplicar as melhores práticas em comércio internacional, dirigidas não só à aduana, mas a todos os órgãos intervenientes em operações de comércio exterior.
Mais próximos das melhores práticas
No texto do anteprojeto é perceptível a influência dessas melhores práticas internacionais em diversas ocasiões, cabendo aqui expressamente enumerar algumas, a começar pela mais complexa, e que foi responsável pelo maior número de pedidos de assistência no âmbito da OMC: o Single Window (artigo 10.4 do AFC) [9].
O anteprojeto consagra, em seus artigos 28 a 30, a utilização obrigatória do Portal Único de Comércio Exterior brasileiro, com transparência, previsibilidade e publicidade da informação, eliminando barreiras burocráticas ao fluxo de comércio exterior, com uso intensivo de tecnologia, emprego de documentos digitais e digitalizados, e pagamento eletrônico de tributos.
Outros temas modernos e presentes internacionalmente, com os quais o leitor está acostumado a conviver aqui no Território Aduaneiro, como gestão de riscos [10] (artigos 36 e 37), Operador Econômico Autorizado [11] (artigo 20), licenças flex (artigo 87), autorregularização (artigo 76), cooperação e parcerias [12] (artigo 24), registro antecipado de declarações/apresentação antecipada de documentos (artigos 26 e 31), e informação antecipada sobre cargas (artigo 44). Há ainda influências regionais, como o instituto do “depósito temporário” (artigos 47 a 50), derivado do Código Aduaneiro do Mercosul, aprovado pela Decisão CMC 27/2010, e a classificação das “pessoas intervenientes” (artigos 14 a 23).
É ampliado o universo das Soluções Antecipadas (hoje conhecidas no Brasil como Soluções de Consulta e de Divergência) em matéria aduaneira, em consonância com o artigo 3º do AFC/OMC, e efetuada ampla reclassificação terminológica das categorias referentes a regimes aduaneiros.
Aliás, a terminologia é um dos pontos de destaque do anteprojeto, que apresenta, logo ao início (artigo 2º), um importante e uniformizador glossário [13], aclarando o significado de “ despacho aduaneiro”, de “despacho para consumo”, de “exportação” e “importação”, de “reexportação” e “reimportação”, de “mercadoria” (e de mercadoria “nacional”, “estrangeira”, “nacionalizada” e “desnacionalizada”), com definições que se somam a outras mais apropriadas a tópicos específicos da norma, como “território aduaneiro” (artigo 5º), “alfandegamento” (artigo 7º), “despacho de importação” e “de exportação” (artigos 51 e 61), “fiscalização aduaneira” (artigo 72), “repressão aduaneira” (artigo 77), “regime aduaneiro” (artigo 90), “regime aduaneiro comum” (artigo 91) e “regime aduaneiro especial” (artigo 92).
Fruto do multicitado alinhamento internacional, são superados termos vetustos da legislação, como “desembaraço aduaneiro” (que dá lugar à “liberação da mercadoria”) e “revisão aduaneira” (substituído por “auditoria posterior à liberação”), havendo ainda melhor adequação dos regimes aduaneiros brasileiros às classificações internacionais [14], e aproximação das normas referentes aos regimes de aperfeiçoamento ativo.
No entanto, a presença mais forte das melhores práticas internacionais está no artigo 4º, que funcionará como um verdadeiro “norte” para o comércio exterior brasileiro, estabelecendo diretrizes para a regulação, a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior de mercadorias no Brasil, seja para os temas tratados no anteprojeto, ou ainda para outros, que ainda demandam disciplina futura.
As ausências no anteprojeto
Três grandes grupos de temas que demandam disciplina futura são indicados no parágrafo único do artigo 4º: a tributação sobre o comércio exterior, as infrações e penalidades aduaneiras, e o contencioso administrativo aduaneiro. Além desses, ficaram de fora temas não afetos a uma lei geral de comércio exterior, por tratarem de tópicos específicos e pontuais, como proibições e restrições, e regras procedimentais, além da disciplina relativa a importação e exportação de serviços.
Os três temas expressamente excepcionados possuem algo em comum, e que os retira do escopo de alinhamento às melhores práticas internacionais (principal objetivo do Anteprojeto). À exceção de tópicos pontuais (já presentes nas citadas diretrizes do artigo 4º), não são especificamente disciplinados em atos internacionais vinculantes, o que torna mais complexa e pouco consensual sua redação, demandando aprofundamento dos estudos de diversos sistemas jurídicos, para encontrar uma melhor solução.
Veja-se, por exemplo, o tema das infrações e penalidades aduaneiras, que a União Europeia tentou uniformizar (sem sucesso) na Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 432/2013, que detalha, em três artigos, 35 infrações, categorizando-as em “infrações aduaneiras com responsabilidade objetiva” (artigo 3º – 17 infrações), “infrações aduaneiras cometidas por negligência” (artigo 4º – 11 infrações), e “infrações aduaneiras cometidas dolosamente” (artigo 5º – 7 infrações) [15], e que o Mercosul também reconheceu a dificuldade em harmonizar, no texto do artigo 180, 1 do Código Aduaneiro (Decisão CMC 27/2010): “O descumprimento das obrigações impostas neste Código será sancionado conforme a legislação dos Estados Partes” [16].
Tentar uniformizar em curto prazo temas complexos como esse, ou o tributário [17] (em pleno trâmite da reforma tributária [18] brasileira sobre o consumo, que afetará substancialmente a incidência de tributos niveladores na importação), ou ainda o relativo a contencioso administrativo aduaneiro (em meio ao trâmite legislativo de diversos projetos de lei tratando de contencioso administrativo incluindo – às vezes, e ainda sem distinção objetiva — o “aduaneiro” no “tributário” [19]), não parece estar no alinhamento buscado com as melhores práticas.
Afirmar que nosso sistema tributário de comércio exterior, nosso sistema sancionatório aduaneiro e nosso sistema de contencioso administrativo aduaneiro estão desalinhados das melhores práticas internacionais implicaria, em primeiro lugar, identificar quais são essas melhores práticas, o que os tratados internacionais só lograram fazer dentro dos limites traçados nas diretrizes que figuram no artigo 4º. Ir além disso, de forma sistemática e responsável, é desejável e possível, mas não no presente alinhamento de astros e atores.
Futuramente (e tratamos de futuro no próximo tópico!), em um próximo (ou em próximos) alinhamento(s), a complementação desses três capítulos poderia transformar o texto atual em um verdadeiro “Código Aduaneiro” brasileiro.
O futuro do anteprojeto
O anteprojeto, após o recebimento das sugestões encaminhadas nas consultas ao setor privado, que já estão em andamento, será apresentado para trâmite nas casas legislativas, e o que se pode adiantar é que em caso de aprovação nos moldes em que se encontra, e com o acréscimo de contribuições na mesma esteira de alinhamento internacional, representará um avanço substancial rumo à modernização normativa das atividades aduaneiras, em consonância com as melhores práticas internacionais. É de se recordar que durante os trabalhos de confecção do Anteprojeto já foram tomadas em conta diversas sugestões de temas/textos apresentadas previamente pelo setor privado, que agregaram importantes conteúdos.
Esse exercício de futurologia [20] relativo ao anteprojeto, no entanto, deve ser feito com moderação. Por hoje, sabemos apenas qual é o texto inicial do anteprojeto, e que a partir das 21h41 haverá o alinhamento que provoca o eclipse lunar, havendo ainda em outubro um eclipse solar.
Aliás, a mesma gestora do Dicop/ON e pesquisadora referida no início deste texto faz um alerta em relação ao eclipse solar: “Em hipótese alguma olhe diretamente para o Sol. Se fizer isso, sua retina ficará com pontos queimados para sempre… Só pode olhar para o Sol com filtro soldador 14, que se compra em lojas de ferragens ou óculos próprios para observação do Sol, fornecidos por órgãos certificados” [21].
Da mesma forma, o anteprojeto deve ser visto apenas com lentes internacionalistas, alinhadas e com as melhores práticas, presentes em tratados internacionais sobre os temas, sob pena de desvirtuar o objetivo do texto normativo proposto, bem sintetizado ao final da Justificação: “…o Anteprojeto permite a modernização da regulação do comércio exterior de mercadorias, no Brasil, em aspectos que já encontram substancial uniformidade internacional, alinhando a disciplina brasileira às melhores práticas internacionais, contribuindo para maior inserção do País na corrente de comércio mundial, e, por consequência, para o desenvolvimento nacional, com segurança e facilitação do comércio”.
[1] Disponível em: https://www.youtube.com/@observatorionacional. Acesso em 15.set.2024.
[2] “Como a sombra da Terra é bem grande em relação à Lua, quando a Lua entra na sombra da Terra, quem estiver vendo vê a Lua eclipsada. Ou seja, para os locais onde é noite na hora do eclipse, será visível: o que vai diferir de um local para outro é a altura da Lua no céu”. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/09/brasileiros-conseguirao-ver-eclipse-lunar-dia-17-de-setembro-evento-sera-transmitido-pelo-observatorio-nacional. Acesso em 15.set.2024.
[3] TREVISAN, Rosaldo. Uma contribuição à visão integral do universo de infrações e penalidades aduaneiras no Brasil, na busca pela sistematização. In: TREVISAN, Rosaldo (org.). Temas Atuais de Direito Aduaneiro III. São Paulo: Aduaneiras, 2022, p. 622. Em relação aos demais artigos do Decreto-Lei no 37/1966, 39 tiveram nova redação dada por leis posteriores, como a Lei nº 10.833/2003 e a Lei no 12.350/2010; 24 foram expressamente revogados; e 67 já não produzem efeitos, e sequer foram disciplinados no Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009).
[4] A OMA produziu, ainda em 2008, o documento intitulado “Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security”, no qual apontava quais seriam os temas protagonistas nas atividades aduaneiras após a virada do Século, antecipando, entre outros, os debates que ainda ocorreriam na Rodada Doha, no âmbito da OMC, sobre facilitação do comércio. Disponível em: https://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/customs-in-the-21st-century/annexes/annex_ii_en.pdf?la=en. Acesso em 15.set.2024.
[5] Sobre a CQR/OMA, remete-se a: BASALDÚA. Ricardo Xavier. El Convenio de Kyoto Revisado: Antecedentes y Principios Aduaneros Involucrados. In: TREVISAN, Rosaldo (org.). Temas Atuais de Direito Aduaneiro III. São Paulo: Aduaneiras, 2022, p. 81-120; e MORINI, Cristiano. A Convenção de Quioto Revisada e a Modernização da Administração Aduaneira. In: TREVISAN, Rosaldo (org.). Temas Atuais de Direito Aduaneiro II. São Paulo: Lex, 2015, p. 163-198.
[6] Sobre o AFC/OMC, remete-se a: NEUFELD, Nora. The long and winding road: how WTO members finally reached a Trade Facilitation Agreement. Disponível em: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201406_e.htm; acesso em 15.set.2024; TREVISAN, Rosaldo. O Acordo sobre a Facilitação do Comércio e seu Impacto na Legislação Aduaneira Brasileira. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (Org.). Constituição, Tributação e Aduana no Transporte Marítimo e na Atividade Portuária. 1. ed. Belo Horizonte: Forum, 2020, v. I, p. 37-67; e FERNANDES, Rodrigo Mineiro. A implementação do Acordo sobre Facilitação Comercial no Brasil. In: TREVISAN, Rosaldo (org.). Temas Atuais de Direito Aduaneiro III. São Paulo: Aduaneiras, 2022, p. 431-468.
[7] A ideia do Conselho de Cooperação Aduaneira de adotar o nome de trabalho “Organização Mundial das Aduanas” surge apenas em junho de 1994, nas 83ª/84ª Sessões do Conselho, em Bruxelas, sendo a nova denominação introduzida nos documentos da OMA a partir de 03/10/1994.
[8] Destacada, aqui nesta coluna, em TREVISAN, Rosaldo; OLIVEIRA, Dihego Antônio Santana de. “Aduanas verdes e ‘uma verdade inconveniente’”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-mai-14/aduanas-verdes-e-uma-verdade-inconveniente/. Acesso em 15.set.2024.
[9] Das 125 notificações disponíveis na base de dados da OMC, 82 categorizaram o art. 10.4 do AFC (XX) como “C” (necessita de assistência). Disponível em: https://tfadatabase.org/en/notifications/categorization-by-member. Acesso em 15.set.2024.
[10] V.g., na coluna de Fernanda Kotzias e Yuri da Cunha (Por uma gestão de risco madura e integrada para o comércio exterior), disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-jun-11/por-uma-gestao-de-risco-madura-e-integrada-para-no-comercio-exterior-brasileiro/. Acesso em 15.set.2024.
[11] V.g., na coluna de Fernando Pieri (OEA e e-commerce: novidades à base do pilar aduana-empresa), disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-mai-30/territorio-aduaneiro-oea-commerce-novidades-base-pilar-aduana-empresa/. Acesso em 15.set.2024.
[12] V.g., na coluna de Rosaldo Trevisan (Parcerias no setor aduaneiro facilitam comércio internacional), disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-jan-30/parcerias-no-setor-aduaneiro-facilitam-comercio-internacional/. Acesso em 15.set.2024.
[13] Sobre a necessidade de uniformização da terminologia aduaneira, remete-se a: TREVISAN, Rosaldo; VALLE, Maurício Dalri Timm do. A “Babel” na Tributação do Comércio Exterior: mais Próximos de um Glossário Aduaneiro? In: TREVISAN, Rosaldo; VALLE, Maurício Dalri Timm do (coordenadores). Perspectivas e Desafios do Direito Aduaneiro no Brasil. São Paulo: Caput Libris, 2024, p. 15-48.
[14] Sobre a classificação dos regimes aduaneiros, remete-se a: ANDRADE, Thális. O conceito de regime aduaneiro especial no Brasil. In: TREVISAN, Rosaldo; VALLE, Maurício Dalri Timm do (coordenadores). Perspectivas e Desafios do Direito Aduaneiro no Brasil. São Paulo: Caput Libris, 2024, p. 67-86.
[15] Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52013PC0884R(03). Acesso em 15.set.2024.
[16] Disponível em: https://www.mercosur.int/pt-br/documentos-e-normativa/normativa/. Acesso em 15.set.2024.
[17] Cabe destacar que alguns temas sobre o imposto de importação já estão detalhadamente disciplinados em tratados, como a base de cálculo (no AVA-Gatt), restando apenas margem residual à legislação nacional. E até os tributos niveladores encontram disciplina no Artigo III do Gatt (“Tratamento Nacional”). Ademais, as taxas, que encontram regulação tanto na CQR/OMA como no AFC/OMC estão contempladas no anteprojeto).
[18] Sobre a reforma tributária, o leitor já está acostumado a ler colunas no território aduaneiro, v.g., a de Liziane Angelotti Meira (A reforma tributária está saindo, mas como fica o comércio exterior?), disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-ago-01/territorio-aduaneiro-reforma-saindo-fica-comercio-exterior/. Acesso em 15.set.2024. E a coluna de Fernando Pieri (A incidência do IBS e da CBS nas importações), disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-ago-13/incidencia-do-ibs-e-da-cbs-sobre-as-importacoes/. Acesso em 15.set.2024.
[19] Tratados, v.g., na coluna de Rosaldo Trevisan (Contencioso aduaneiro: uma luz no fim do túnel?), disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-set-20/territorio-aduaneiro-luz-fim-tunel-contencioso-aduaneiro-2022/. Acesso em 15.set.2024.
[20] Para uma visão de futuro com mais embasamento científico e dados oficiais de organizações internacionais, remete-se à coluna de Fernando Pieri (2050: uma odisseia aduaneira), disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-jun-04/2050-uma-odisseia-aduaneira/. Acesso em 15.set.2024.
[21 “Como a sombra da Terra é bem grande em relação à Lua, quando a Lua entra na sombra da Terra, quem estiver vendo vê a Lua eclipsada. Ou seja, para os locais onde é noite na hora do eclipse, será visível: o que vai diferir de um local para outro é a altura da Lua no céu”. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/09/brasileiros-conseguirao-ver-eclipse-lunar-dia-17-de-setembro-evento-sera-transmitido-pelo-observatorio-nacional. Acesso em 15.set.2024.
—
O post Lei Geral de Comércio Exterior: um alinhamento importante apareceu primeiro em Consultor Jurídico.