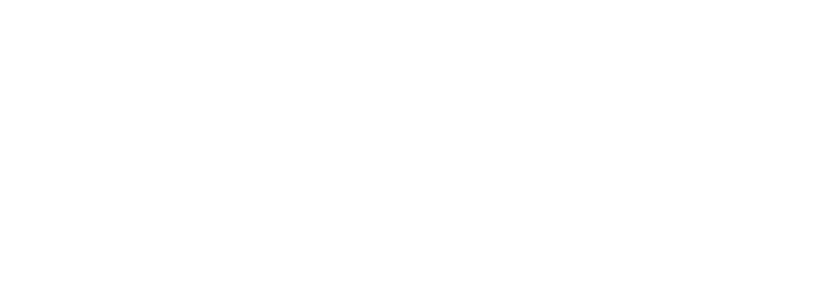Um relatório divulgado no começo do ano pela Bolsa de Valores de Londres — London Stock Exchange Group (LSEG) — superou expectativas e trouxe o valor de US$ 949 bilhões em créditos de carbono negociados no ano de 2023. O número próximo a US$ 1 trilhão impressiona, mas ainda é uma gota no oceano. Estados Unidos e China, de longe os maiores emissores de carbono, mal triscaram o novo “ouro negro”. Quando isso acontecer, o sistema monetário global pode virar de cabeça para baixo.
Os resultados serão imprevisíveis e perigosos. Um mercado global de títulos lastreados em créditos de carbono pode assumir as funções de uma quase-moeda de circulação internacional, à imagem do que fazem hoje os títulos da dívida dos EUA, os “Treasuries”. Alguns países, principalmente a China, estão especialmente interessados nesse cenário.
Assim como o padrão dólar ajudou os EUA a financiar sua economia após a Segunda Guerra Mundial, o “padrão carbono” pode ajudar países líderes no mercado de carbono a extraírem vantagens para sua própria economia à custa do resto do mundo. O agravante é não se saber exatamente como esse “padrão carbono” vai se comportar.
A moeda de carbono não seria uma moeda como as que conhecemos, pois trata-se de um título lastreado em um produto real. O sistema lembra “padrão ouro”, ordem monetária vigente em meados do século 20, que resultou em recessão e crise em grandes proporções, mas não para todo mundo. Nesse jogo, alguns ganham e o resto perde.
Ganhadores e perdedores
Nem todos terão fôlego para acompanhar a mudança. Alguns sistemas produtivos, como parte do agronegócio, do setor de transportes e a cadeia da construção civil simplesmente não dispõem de alternativas tecnológicas viáveis para reduzir emissões. Estudos indicam que o maior gargalo para a redução de emissão por negócios locais continua sendo o acesso a crédito, algo que os mercados de carbono não têm se mostrado capazes de resolver.
Há também dúvidas se o modelo de créditos de carbono tem realmente algo a ver com meio ambiente. Muitos dos títulos não absorvem carbono nenhum, e são comuns denúncias de fraudes e falsificação. Críticas e abaixo-assinados de autoridades, especialistas e ativistas são o novo normal. Enquanto isso vai ficando claro que os apoiadores do modelo parecem estar mais interessados em taxas de administração e corretagem.
No Brasil, o modelo do mercado de carbono está em fase final de definição de suas bases jurídicas e regulatórias no Projeto de Lei 2.148/2015, aprovado na Câmara depois de uma tramitação tumultuada, agora em andamento no Senado. A percepção de que os apoiadores do modelo estão mais preocupados com derivativos e a reforma do sistema monetário internacional pode servir de alerta para os legisladores favoráveis à proposta.
O sistema de créditos de carbono é propenso a fraudes e manipulação, distribui custos de forma desigual ao longo da cadeia produtiva da economia e distorce o funcionamento dos mercados. É um assunto sensível e complexo, para o qual reguladores locais, a exemplo da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), dificilmente estarão equipados. Não bastasse isso, a regulação do carbono pode abrir as portas para uma nova ordem monetária global na qual o Brasil pode ser dar mal.
A China entra no jogo
Alguns movimentos indicam que a China já se posiciona para ser o dono da bola no jogo global da economia do carbono. Depois de uma entrada tímida no mercado no início dos anos 2010 acompanhada de um recuo estratégico, o interesse ressurgiu redobrado. A primeira jogada foram investimentos maciços em “energia limpa”, principalmente painéis solares, baterias de lítio e carros elétricos, seguidos da criação de um novo arcabouço regulatório do carbono.
“Os investimentos chineses representam um terço dos investimentos em energia limpa em todo o mundo e uma parte importante do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China. Em 2023, a China encomendou tanta energia solar fotovoltaica como o mundo inteiro. O ano de 2023 assistiu a um crescimento robusto das chamadas “três novas” (xin-sanyang) indústrias – células solares, baterias de lítio e veículos elétricos – que registaram um salto de 30% nas exportações em 2023”, diz relatório da Agência Internacional de Energia.
Aparentemente a tecnocracia chinesa decretou que a mudança de matriz energética é vantajosa para o país. Por um lado, o investimento coordenado no complexo industrial mineral, químico e metal-mecânico é próprio ao modelo de economia planejada chinês e faz contrapeso ao estouro da bolha imobiliária local. Por outro lado, inundar o planeta com painéis fotovoltaicos, carros elétricos e baterias de lítio produz montanhas de créditos de carbono, que podem ter importância estratégica a longo prazo.
O ‘padrão carbono’
Alguns trabalhos publicados na China apresentam a tese de que, havendo regulação adequada e um volume suficientemente grande de créditos de carbono em circulação, é possível criar um sistema monetário internacional baseado no “padrão carbono”. A principal vantagem é destruir o padrão dólar, objetivo histórico da política econômica chinesa.
O ensaio “A viabilidade da emissão de uma moeda de carbono” divulgado em conferência da Universidade de Chongqing em janeiro de 2022 apresentou a tese de que uma moeda baseada em carbono é um modelo não só viável como superior ao padrão dólar. “Sob o atual sistema monetário unilateral do dólar norte-americano, a ordem econômica é volátil e propensa a crises”, diz o texto.
A pesquisa “Uma teoria de uma moeda de carbono”, publicada em maio de 2022 pela revista Pesquisa Básica (Fundamental Research), da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, assinada por economistas da Universidade de Pequim, apresenta um manual prático de como colocar o modelo em pé.
“Propomos um novo sistema monetário internacional baseado na moeda de carbono (o padrão carbono) para enfrentar externalidades no contexto econômico e político global de hoje. O Federal Reserve implementa cada vez mais políticas monetárias não alinhadas com o interesse comum global”, diz o artigo.
O trabalho apresenta um desenho completo de como seria um mundo dominado pelo padrão carbono. Prevê regras e mecanismos regulatórios, enumera vantagens sobre outras alternativas e antecipa a necessidade da criação de uma espécie de “Fundo Monetário Internacional (FMI) do carbono” para o sistema funcionar.
A pesquisa sugere que o padrão carbono pode penalizar quem ficar para trás e mostra semelhanças entre esse sistema e o padrão-ouro. Tanto no padrão ouro como no padrão carbono as moedas são lastreadas a um produto real. Isso torna a oferta monetária rígida e traz consequências graves em caso de desequilíbrios cambiais.
O lobby do padrão-carbono
O principal lobby internacional pela criação de um padrão-carbono é a organização não-governamental Global Carbon Reward, fundada pelo engenheiro civil australiano Delton Chen. A organização não esconde a semelhança entre o padrão carbono e o padrão ouro e até faz uso dessa comparação: “A moeda de carbono será um novo tipo de ‘dinheiro representativo’ porque representará o carbono mitigado. Isto é análogo a representar o ouro armazenado sob um padrão de troca de ouro”, diz a Global Carbon Reward.
No padrão ouro, bancos centrais mantinham reservas em ouro para lastrear o papel moeda em circulação. O resultado é um sistema monetário rígido, que leva ao acúmulo de reservas em alguns países e a crises cambiais e recessão nos demais. Vigorou de forma instável entre o fim do século 19 e a Segunda Guerra Mundial, e uma versão alternativa usando o dólar como intermediário foi implantada após o “Acordo de Bretton Woods”, nos anos 1940, mas entrou em colapso nos anos 1970.
Greenwashing
Em junho deste ano, a Polícia Federal lançou a Operação Greenwashing, que desbaratou um esquema que vendeu R$ 180 milhões em créditos de carbono de terras griladas da União. Ano passado uma série de reportagens descobriu que a Verra, uma das maiores fornecedoras de créditos de carbono verificados do mundo, vendia até 90% de “créditos fantasmas”. Ou seja, áreas florestais “protegidas” não tinham redução relevante de desmatamento.
No início de julho deste ano uma carta assinada por 80 entidades representativas de movimentos ambientais pediu o fim da política de créditos de carbono. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, é crítico contumaz do modelo. Um relatório do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento — International Institute for Environment and Development (IIED) — de 2023 defende que o modelo pode distorcer mercados, destruir negócios e prejudicar projetos que realmente reduzem emissões.
Não está nem um pouco claro que o modelo dos créditos de carbono é a melhor resposta para o problema dos gases estufa. Também não está claro o que pode ser colocado no lugar, mas simplesmente fixar tetos para emissões e jogar o problema no colo do mercado não é uma solução realista. Como vimos, o modelo dos créditos de carbono tem fortes indícios de atender apenas a ambições de especuladores financeiros e autoridades monetárias estrangeiras. Quem vai pagar a conta não são eles.
—
O post O novo ‘ouro negro’: créditos de carbono no sistema monetário global apareceu primeiro em Consultor Jurídico.