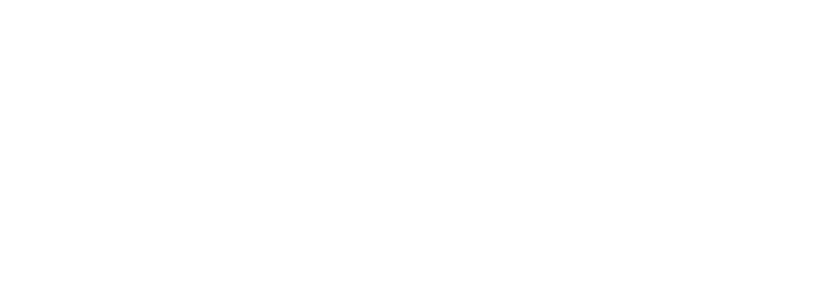Nos últimos anos, a combinação entre juros elevados, renda pressionada e maior dificuldade na aprovação de crédito trouxe de volta às incorporadoras e aos tribunais um tema que parecia pacificado: o distrato de imóvel na planta. Embora a Lei nº 13.786/2018 — conhecida como Lei do Distrato — tenha sido aprovada com a promessa de conferir segurança jurídica ao setor, na prática seu alcance ainda gera dúvidas, sobretudo quanto aos limites de retenção e à forma de restituição das quantias pagas pelo comprador.
A crença comum no mercado é a de que o comprador que desiste do negócio antes da entrega do empreendimento estaria sujeito, automaticamente, à perda de até 50% dos valores pagos.
Entretanto, uma leitura detida da legislação revela que o percentual de 50% não constitui regra geral, mas limite máximo aplicável apenas às hipóteses específicas em que o contrato estiver submetido ao regime de patrimônio de afetação — e mesmo assim, sujeito ao controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade.
Nos tribunais superiores, a interpretação evoluiu de modo a compatibilizar a Lei do Distrato com a principiologia do Código de Defesa do Consumidor. Embora a legislação mencione a possibilidade de retenção de “até 50%”, esse percentual representa teto máximo, e não patamar automático.
O Superior Tribunal de Justiça, amparado na Súmula 543 — que determina a restituição imediata das parcelas pagas — tem reiteradamente afastado a aplicação mecânica desse limite, reduzindo-o a patamares próximos de 25% quando inexistentes elementos concretos que justifiquem percentual maior. O movimento jurisprudencial demonstra que o limite legal deve ser interpretado em harmonia com o equilíbrio contratual, com o artigo 413 do Código Civil e com a vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual a cifra de 50% funciona como exceção juridicamente justificável, e não como regra geral.
– A lei aplicável e a natureza do distrato
O distrato é a resolução do compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador ou do vendedor. Nas hipóteses em que o adquirente é pessoa física e a compra tem finalidade habitacional ou de investimento, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, somado à Lei nº 13.786/2018, que alterou dispositivos da Lei nº 4.591/1964 (incorporações) e da Lei nº 6.766/1979 (loteamentos). Nessas situações, a vulnerabilidade informacional do comprador é reconhecida como premissa de proteção.
– Restituição: a regra da imediatidade
O STJ pacificou que a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de maneira imediata, e não ao término da obra ou após a revenda da unidade — entendimento cristalizado na Súmula 543. Quando a culpa pelo desfazimento contratual é do vendedor, a devolução é integral; quando o comprador desiste, admite-se retenção moderada, jamais excessiva.
– Quanto a incorporadora pode reter?
Fora do regime de patrimônio de afetação, a jurisprudência tem limitado a retenção a valores próximos de 25% dos montantes pagos. O TJ-SP, em inúmeros acórdãos recentes, tem reputado abusiva a retenção superior quando não demonstradas despesas efetivas ou prejuízos concretos ao vendedor.
Nos empreendimentos submetidos ao patrimônio de afetação, a lei autoriza multa de até 50%. Todavia, esse teto não opera automaticamente: exige a comprovação de que o regime foi efetivamente constituído e executado conforme a legislação — segregação de recursos, conta vinculada, comissão de representantes e demais mecanismos de blindagem patrimonial. Além disso, o artigo 413 do Código Civil autoriza a redução judicial de cláusulas penais manifestamente excessivas, ainda que contratualmente pactuadas.
– Parcelamento da devolução: pode?
A jurisprudência paulista mantém posição firme contra o parcelamento. As Súmulas 1, 2 e 3 do TJSP reforçam que a restituição deve ser realizada em parcela única, pois o vendedor pode revender o imóvel e não se admite impor desvantagem exagerada ao consumidor.
– Outras verbas relevantes: fruição, corretagem e encargos
A taxa de fruição — ou taxa de ocupação — só é cabível quando houve posse ou uso efetivo do imóvel. O STJ já reconheceu sua incidência em lote não edificado, desde que observados os limites da Lei do Distrato.
Quanto à corretagem, sua retenção é admitida pela lei desde que haja previsão contratual clara e prévia informação ao consumidor. A soma de multas, contudo, não pode gerar sobrepenalização que desvirtue o equilíbrio econômico da relação.
Encargos como IPTU e condomínio seguem, em regra, a responsabilidade de quem esteve na posse do bem.
– Quando o comprador tem direito à devolução integral
Se o desfazimento contratual ocorre por culpa do vendedor — atraso injustificado na entrega, vícios construtivos graves, publicidade enganosa ou violação do dever de informação — o consumidor tem direito à devolução integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543.
Conclusão
Passados mais de seis anos da promulgação da Lei do Distrato, o que se observa é a consolidação de um padrão protetivo que harmoniza a legislação especial com os princípios do direito do consumidor. Em síntese: retenção moderada e reembolso imediato constituem a regra; a retenção de até 50% — quando houver patrimônio de afetação regularmente instituído — é exceção, jamais automatismo. O exame casuístico, aliado à demonstração de despesas efetivamente suportadas pela incorporadora, tem sido o critério preferencial pelos tribunais.
O grande desafio, ainda hoje, é evitar que a Lei do Distrato seja instrumentalizada como mecanismo de punição automática ao comprador. A função da norma, em seu espírito, sempre foi conferir previsibilidade ao setor, sem descurar da proteção constitucional do consumidor e da vedação ao enriquecimento sem causa.
O post Distrato de imóvel na planta: o que o comprador pode exigir hoje apareceu primeiro em Consultor Jurídico.