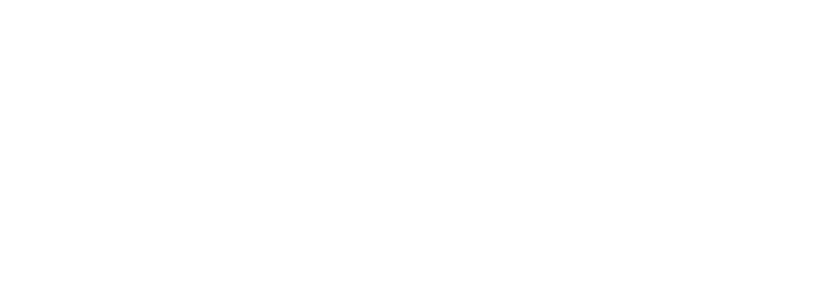O presente artigo procura perlustrar, de forma breve, o projeto de lei de modificação do processo administrativo brasileiro, PL nº 2.481/22, com o intuito de demonstrar que há outros pontos que poderiam ser inseridos na proposta de alteração da Lei de Processo Administrativo. Para auxiliar no desenvolvimento do texto, proceder-se-á com uma análise comparada com o Código do Processo Administrativo português, CPA (Decreto-lei nº 4/2015), traçando um paralelo entre os temas: nulidade dos atos administrativos e regulamentos administrativos.
Objetivos do projeto
Por meio do Ato Conjunto do presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal nº 1/2022, foi instituída uma comissão de juristas para promover a dinamização, unificação e modernização do processo administrativo e tributário nacional [1]. Por envolver duas searas, foi criada uma subcomissão, responsável apenas pelas modificações da Lei nº 9.784/99.
A Subcomissão de Processo Administrativo apresentou o projeto com base em dez diretrizes. A proposta, assim, visa conferir abrangência nacional às modificações, de modo que a Lei nº 9.784/99 sirva também aos demais entes federativos. Pretende, também, forçar de vez o ingresso da administração na era digital, com processos eletrônicos e a possibilidade do uso de IA, com identificação do seu uso.
Há, ainda, a inserção de participação popular, mediante processos de consultas públicas, bem como a transposição do pragmatismo jurídico já introduzido pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb). Fixa, a partir do projeto, efeitos translativos para o silêncio da administração, permitindo que a autoridade superior profira a decisão necessária para sanar a omissão.
Ato contínuo, preocupa-se uma vez mais com a fixação de prazos para instrução e tomada de decisão e sobre a teoria da nulidade dos atos administrativos, permitindo que o administrado possua a chance de corrigir os vícios identificados. Quanto aos processos com situação fática semelhante, o projeto procura promover uniformidade, exigindo que haja a extensão dos efeitos do ato decisório de um processo para os demais de mesmo perfil.
De forma até desnecessária, o projeto prevê novamente a necessidade da análise de impacto regulatório (AIR), instrumento já criado na Lei Federal nº 13.848/19, diploma responsável pela organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras.
De mais a mais, fica proibido que haja tomada de decisão, em mesma instância, sobre situação já apreciada, atraindo a estabilidade, uniformidade e de segurança jurídica ao processo. Por fim, a subcomissão procurou trazer disposições sobre o Direito Administrativo Sancionador.
Ponderações
O projeto de lei de modificação da Lei de Processo Administrativo, PL nº 2.481/22, uma vez aprovado na forma em que proposto pela comissão de juristas, poderá ensejar dois efeitos: o desejável, aquele que a lei tentará incutir aos seus operadores; e um real, de aplicação prática no dia a dia da administração. Sobre este último, arrisca-se em afirmar que as disposições propostas do PL trarão poucos ganhos práticos.
Isso porque boa parte das modificações que serão introduzidas, de algum modo, já fazem parte da rotina das diversas unidades públicas. Desde a introdução da reforma administrativa em 1998, com a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, preocupa-se com uma administração gerencial e coesa, voltada às necessidades do público que utiliza os serviços ofertados.
Além disso, pela unicidade do sistema jurídico [2], a atual Lei de Processo Administrativo faz parte de um microssistema interdependente, que já recebe o influxo de outras normas, como a Lindb, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei nº 8.112/91 e, como não poderia ser diferente, Constituição [3].
As modificações — não obstante a “importação” de institutos que já estão previstos e são utilizados, de certa forma, na atualidade, como, por exemplo, temas envolvendo processo eletrônico, mediação e autocomposição de conflitos — trarão ao menos certa sistematização e unicidade sob o prisma de uma lei de processo administrativo.
Oportunidade perdida
Todavia, a oportunidade de modificação da lei de processo administrativo deveria ser por reformular por completo a norma, aproveitando a iniciativa para a inserção de mais temas que trazem certa divergência na doutrina e na jurisprudência e, atualmente, exigem a atenção do legislador.
Em razão da restrição do espaço, citam-se dois. Podemos falar da teoria da anulação dos atos administrativos e sobre a teoria dos regulamentos administrativos. São temas constantemente abordados pela doutrina e pelos tribunais, que custam caro à administração e, por consequência, ao administrado.
Na teoria das nulidades dos atos administrativos, a depender do doutrinador escolhidos, observa-se uma ótica diferente ao tema. Celso Antonio Bandeira de Mello, por exemplo, realiza um recorte, apontando a existência de atos nulos e anuláveis, além de identificar a categoria de atos irregulares e atos inexistentes. A estes últimos, Celso Antônio afirma que são atos que correspondem a condutas criminosas, ofensivas a direitos fundamentais da pessoa humana [4].
Já Regis Fernandes de Oliveira confere unicidade ao tema, entendendo que não existe diferenciação entre ato nulo ou anulável. Explica o autor que o seu posicionamento ocorre em razão do fundamento para a invalidação dos atos, resultando do princípio da autotutela [5]. Nesse sentido, o ato nulo ou anulável está em desconformidade com a norma, seja total ou parcial. A supressão dele acarretará o mesmo efeito em ambas as situações [6].
Sobre os regulamentos administrativos, a divergência é ainda mais profunda. A doutrina clássica de Celso Antonio Bandeira de Mello, por exemplo, afirma que o ordenamento brasileiro só admite um único regulamento, afastando espécies regulamentares independentes e autônomas, mesmo diante da introdução do inciso VI do artigo 84 da CF/88.[7]
Clèmerson Merlin Clève, por outro lado, assevera que o regulamento introduzido no inciso VI do artigo 84 da CF/88, na verdade, funciona como um instrumento que está entre um regulamento autônomo e um regulamento de execução. Seria, portanto, um regulamento de organização [8].
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, desconsidera a abordagem da doutrina e enquadra o regulamento administrativo a depender da densidade da norma regulamentar e a capacidade de ofender (in)diretamente a Constituição. Se houver confronto direto, a norma regulamentar possui autonomia suficiente para desafiar o controle direto de constitucionalidade. Se não existir, realiza-se o controle de convencionalidade [9].
E a questão regulamentar parece ter entrado na ordem do dia, diante da recente sinalização dada pelo Congresso brasileiro de tornar a delegação normativa a regra e não a exceção. A delegação legislativa, da qual os regulamentos é uma espécie [10], é tema que vem ocupando a doutrina brasileira há algum tempo [11].
Na atualidade, expressão dessa nova sistemática, aponta-se a Lei nº 14.133/21, que introduziu um novo regramento sobre licitações e contratos administrativos. No novo regime, o legislador prestigiou a capacidade do Poder Executivo em trazer regulamentações específicas, ficando a cargo do Legislativo apenas a abordagem geral do tema.
Esse novo quadro de ampla delegação acompanha a doutrina de André Cyrino. Segundo o autor, o processo legislativo possui um enorme custo, ensejador do presidencialismo de coalização [12]. Assim, medidas de delegação e edição de regulamentos (autônomos) estão diretamente relacionadas a essa conjuntura política, já que a autonomia normativa do governo funcional atua como forma de diminuir o custo político desse processo [13].
Nesse diapasão, boas experiências legiferantes podem ser adaptadas ao Brasil, com a devida temperança. Manoel Gonçalvez Ferreira Filho, desde a década de 60, já ensinava que pela unificação intensa da civilização, tentativas estéreis podem ser evitadas olhando-se o direito comparado [14].
Isso porque os problemas enfrentados pela doutrina são relativamente iguais no mundo, avultando-se a análise comparada dos institutos como forma de trazer segurança e orientação ao legislador. A ressalva, por certo, direciona-se que a mera repetição, descuidando das particularidades locais, não trará o resultado esperado [15].
O Código de Portugal
Aos dois temas objeto deste artigo, numa análise comparada, pode-se observar o tratamento conferido pelo Código do Processo Administrativo português, CPA (Decreto-lei n 4/2015) [16]. O novo CPA, editado em substituição ao anterior Decreto-Lei n.º 442/91, trouxe uma reformulação ampla sobre diversos temas. Entre eles está a disciplina conferida aos regulamentos administrativos e aos atos nulos e inválidos.
Os regulamentos administrativos no CPA são disciplinados entre os artigos 135 a 147. Nelas, em ordem sequencial, o Código de Processo Administrativo português aborda os seguintes temas: a) conceito de regulamento administrativo; b) habilitação legal; c) regulamento devido e sua omissão; e) relações entre os regulamentos; d) publicação e vidência dos regulamentos; e) proibição de eficácia retroativa; f) aplicação de regulamentos; g) da invalidade do regulamento administrativo; h) caducidade e revogação; i) e a forma como se dá a impugnação de regulamentos administrativos [17].
De todos esses dispositivos, um dos mais relevantes é o artigo 136. Ele traz os requisitos prévios para edição dos regulamentos e qual a verdadeira finalidade de sua edição, capacidade de inovar, tecnicamente, na órbita da função administrativa [18].
Na mesma linha, a despeito de outras disposições, o CPA português disciplinou as omissões regulamentares, prevendo, por exemplo, prazo de 90 dias para a norma regulamentar ser editada. Em persistindo a omissão da edição da norma, os interessados prejudicados podem requerer a emissão do regulamento ao órgão com competência na matéria [19].
Com efeito, o Código português possui a capacidade de trazer certa margem de previsibilidade sobre os regulamentos. Há um contorno claro de como o governo, entidades e toda a administração devem tratar os regulamentos quando criados e aplicados. Nesse sentido, existe a clara divisão entre regulamentos de execução e regulamentos independentes.
De mais a mais, ao regulamento independente, comparado ao regulamento autônomo do direito brasileiro, já existe a previsibilidade da necessidade de indicação de quem irá editá-lo (competência subjetiva) e sobre qual matéria se procederá a regulamentação (competência objetiva) (artigo 136 do CPA).
Além disso, reconhece-se ao regulamento independente um novo escopo, traçando uma linha de divisão em relação aos regulamentos de execução ou complementação. Permite-se, assim, que esses regulamentos atuem em espaços vazios, (ainda) não disciplinados pelos atos normativos primários e com a capacidade de trazer uma disciplina jurídica inovadora no âmbito das atribuições das entidades que os emitam [20].
O PL nº 2.481/22 seria uma ótima oportunidade para trazer ao menos o mínimo de tratamento em relação a teoria dos regulamentos, carecedora de uma maior atenção por parte do legislador brasileiro.
Já em relação a teoria da nulidade dos atos administrativos, o PL nº 2.481/22 tenta trazer alguma disciplina, contudo de forma extremamente tímida. O projeto de modificação aborda: a) o prazo decadência para realizar a anulação de ato favorável ao administrado; b) os impactos da anulação; c) atribuição efeitos ex nunc; d) convalidação sem repercussão; e) a boa-fé quando a anulação alcance certas verbas; e, por fim, f) a suspensão cautelar do ato.
Por outro lado, o CPA português desce em detalhes a análise dos atos administrativos. Nesse diapasão, há disposições sobre: a) conceito de ato administrativo; b) cláusulas acessórias; c) forma dos atos; d) menções obrigatórias; e) dever de fundamentação; f) requisitos da fundamentação; g) fundamentação de atos orais; h) eficácia do ato administrativo; e i) invalidade do ato administrativo [21].
Sobre este último, o CPA traz um longo arcabouço a partir do art. 161.º, dispondo: a) atos nulos; b) regime da nulidade; c) atos anuláveis e regime da anulabilidade; d) ratificação, reforma e conversão; e) revogação e anulação administrativas; f) atos insuscetíveis de revogação ou anulação administrativas; g) condicionalismos aplicáveis à revogação; h) condicionalismos aplicáveis à anulação administrativa; i) condicionalismos aplicáveis à anulação administrativa; j) forma e formalidades; k) efeitos da revogação e da anulação; l) consequências da anulação administrativa; m) alteração e substituição dos atos administrativos; e n) retificação dos atos administrativos.
Vejamos apenas o dispositivo que trata das consequências da anulação administrativa:
“Artigo 172.º
Consequências da anulação administrativa
1 – Sem prejuízo do eventual poder de praticar novo ato administrativo, a anulação administrativa constitui a Administração no dever de reconstituir a situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, bem como de dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido com fundamento naquele ato, por referência à situação jurídica e de facto existente no momento em que deveria ter atuado.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração pode ficar constituída no dever de praticar atos dotados de eficácia retroativa, desde que não envolvam a imposição de deveres, encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos, assim como no dever de anular, reformar ou substituir os atos consequentes sem dependência de prazo, e alterar as situações de facto entretanto constituídas, cuja manutenção seja incompatível com a necessidade de reconstituir a situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado.
[…]” [22].
Observam-se das disposições colacionadas da legislação administrativa lusa, que a abordagem sobre os regulamentos e sobre a anulação dos atos administrativos é muito mais detalhada. É claro que não alcança toda e qualquer acontecimento, sob pena de engessamento das situações fáticas subjacentes à norma. Todavia, trazem uma moldura estruturada que procura evitar comportamentos omissos e enseja, ao mesmo tempo, segurança ao administrado que precisa lidar com o poder público.
Sendo assim, conquanto a modificação pretendida, observa-se que o PL nº 2.481/22 poderia aproveitar a oportunidade para avançar muito mais, olhando para experiências externas, em termos de legislação administrativa, para trazer soluções mais completas. Não se limitaria, portanto, a acomodar disposições que já estão previstas no ordenamento brasileiro e de pouco efeito prático.
[1] PROJETO DE LEI Nº 2.481/22. Dispõe sobre alterações legislativas na Lei de Processo Administrativo brasileiro. Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154735.
[2] BOBBIO, Noberto – Teoria do ordenamento jurídico. 2ª ed. São Paulo: EDIPRO, 2014. p. 174.
[3] OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende – Constitucionalização do Direito Administrativo: o princípio da juridicidade, a releitura da legalidade administrativa e a legalidade das agências reguladoras. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris Editora, 2010. 24-35.
[4] MELLO, Celso Antônio Bandeira de – Curso de Direito Administrativo. 36ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 366-367.
[5] OLIVEIRA, Regis Fernandes – Ato Administrativo. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 141-142.
[6] Idem – Ibidem.
[7] MELLO, Celso Antônio Bandeira de – Curso de Direito Administrativo. 36ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. p. 272.
[8] CLÈVE, Clèmerson Merlin – Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 326.
[9] PELUSO, Cezar Relat. – Acórdão do Supremo Tribunal Federal, 3239, de 01 de fevereiro de 2019. [Em linha]. [Consult. 01 abri. 2024]. Disponível em https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur397204/false.
[10] ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón – Curso de Derecho Administrativo I. 19ª ed. Pamplona: Thomson Reuters, 2020. p. 299-300.
[11] CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira – O Congresso e as Delegações Legislativas. Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 131.
[12] ABRANCHES, Sérgio Henrique H. de – Presidencialismo de coalizão: Raízes e evolução do modelo político brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 75-80.
[13] CYRINO, André Rodrigues – Delegações Legislativas, Regulamentos e Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 182.
[14] FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira – A autonomia do poder regulamentar na constituição francesa de 1958. Revista de Direito Administrativo. [Em linha]. Nº 84 (1966), p. 24-39. [Consult. 23 fev. 2023]. Disponível em https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/28193. p. 24-25.
[15] Idem – Ibidem.
[16] DECRETO-LEI n.º 4/2015. Diário da República, Série I. [Em linha]. (01-07-2015), p. 50 – 87. Disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/4-2015-66041468.
[17] Idem – Ibidem.
[18] ALVES, Manuel João et al – Novo Código do Procedimento Administrativo Anotado e Comentado. Coimbra: Almedina, 2023. p. 371.
[19] DECRETO-LEI n.º 4/2015. Diário da República, Série I. [Em linha]. (01-07-2015), p. 50 – 87. Disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/4-2015-66041468.
[20] ALMEIDA, Mário Aroso et al – Comentários à revisão do Código do Processo Administrativo. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2022. p. 290.
[21] DECRETO-LEI n.º 4/2015. Diário da República, Série I. [Em linha]. (01-07-2015), p. 50 – 87. Disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/4-2015-66041468.
[22] Idem – Ibidem.
Fonte: Conjur