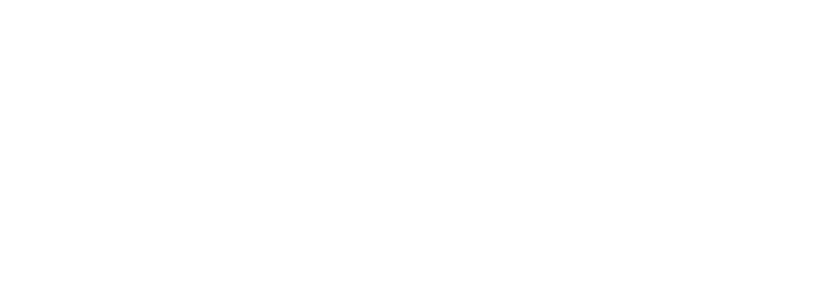O equívoco nas modalidades de importação
O equívoco ou omissão na prestação das informações relativas à operação de comércio internacional que resulte na ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador, ou do responsável pela operação, concretizada ou não por meio da interposição de um terceiro, tem por resultado o perdimento da mercadoria ou a multa equivalente ao seu valor aduaneiro.
Ocorre que, em muitos casos, a ocultação pode ter se configurado sem a real intenção do agente de promover um ardil contra a administração, sendo resultado, em especial, da própria complexidade da legislação aduaneira quanto à adoção, por exemplo, da indicação da correta modalidade de importação, que é diretamente dependente das características envolvidas em cada operação.
Prejuízo ao controle aduaneiro
A declaração incorreta quanto aos elementos da importação ou da exportação pode caracterizar prejuízo ao controle aduaneiro, conjunto de práticas e medidas voltado a assegurar a aplicação da legislação aduaneira, “corpus mechanicus” ou elemento de instrumentalização da vigilância das fronteiras e da própria soberania nacional.
Tal finalidade, subsistente em si mesma, é tutelada no Brasil por um sofisticado e severo mecanismo sancionatório, indiferente a eventuais perdas de receitas tributárias, merecendo destaque a pena de perdimento das mercadorias, ou multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, sempre que caracterizado o “dano ao Erário” (§ 1º e § 3º do artigo 23 do Decreto-Lei nº 1.455/1976)
Provas e conjunto indiciário da ocultação
A administração, por meio do exercício do controle aduaneiro, preserva-o, seja na etapa da conferência ou de auditoria posterior ao despacho, sendo-lhe possível desconsiderar a modalidade declarada caso não reflita a realidade documental colocada à disposição da autoridade aduaneira.
Essa análise, de caráter substancialista, tem sido cada vez mais comum e aceita pela jurisprudência, que, mediante a reunião de indícios, considera suficientemente comprovado o comportamento concludente das partes intervenientes.
É importante se analisar esta tendência a partir da perspectiva dos aplicadores (auditores, conselheiros, juízes): nem sempre será simples se demonstrar o ardil simulatório tendente a ocultar o real adquirente de uma mercadoria, e raramente haverá uma “prova cabal”, ou seja, aquela suficientemente irrefutável e dotada de aptidão para, sozinha, formar, de maneira satisfatória e juridicamente eficiente, o convencimento, sendo necessária a referência a um quadro indiciário que, por indução lógica, permita a conclusão minimamente segura a respeito “(…) da respectiva intenção e dos efeitos jurídicos perseguidos” [1].
Análise material das operações
Assim, aspectos materiais assumirão um importante papel para se determinar a correta modalidade adotada pelo interveniente. Neste sentido, a comprovação a respeito da pessoa que efetivamente negocia as condições e os termos da compra internacional, arcando com os custos relacionados à operação, tais como taxas alfandegárias, câmbio, procedimentos de licenciamento de mercadorias, entre outros, podem ser determinantes para se apontar a existência de uma importação direta (importador = adquirente).
Por outro lado, caso o adquirente, participe ele ou não das negociações com o fornecedor exportador, tenha contratado uma trading que realiza o despacho aduaneiro, o câmbio e demais atividades relacionadas à operação, atuando como mera extensão do comprador, sem influência sobre a transação, sendo as despesas arcadas em nome do destinatário efetivo da mercadoria, que assume os riscos do negócio, está-se mais próximo de uma modalidade indireta “por conta e ordem” de terceiro.
Diversa será a situação em que a trading realiza, em seu nome e com seus próprios recursos (ainda que receba valores do encomendante), a importação de mercadoria para um encomendante predeterminado. Se ela, como proprietária da mercadoria, apresenta elementos que permitam considerar a sua etapa na cadeia de circulação da mercadoria passível de consideração autônoma, é possível se afirmar que atua na condição de vera importadora, aproximando a operação de uma modalidade indireta “por encomenda”.
A partir do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais, será, portanto, não a modalidade declarada (“causa aparente”), mas a avaliação efetiva das provas documentais (tais como a alocação de riscos prevista em contratos, o responsável pelo fechamento do câmbio, o responsável pelo pagamento do seguro, os fluxos financeiros etc.) que será fundamental para revelar de quem foi a intenção de adquirir a mercadoria no exterior e nacionalizá-la – a causa efetiva do negócio.
Interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente
A partir da Lei nº 10.637/2002, o Decreto-Lei nº 1.455/1976 passou a prever, como uma das hipóteses de dano ao erário, a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros”.
O artigo 23 da norma de 1976 dispôs sobre um rol de condutas sob a denominação “dano ao Erário”, entre as quais acobertar um dos participantes que, potencial ou efetivamente, impactariam o controle aduaneiro, em especial o “responsável pela operação”, para, em seguida, condená-las coletivamente ao perdimento (§ 1º) ou multa equivalente ao valor aduaneiro (§ 3º)
Caso a ocultação seja realizada por meio da interposição de um terceiro, será aplicada a mesma penalidade, seja na modalidade presumida, quando o importador não comprova a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos utilizados na operação de comércio exterior (§ 2º), ou comprovada (inciso V do artigo 23), que demanda a identificação não apenas do resultado, mas também os meios utilizados para o alcançar.
Ocultação “dolosa” ou “culposa” do real adquirente
Para que se aperfeiçoe o consequente da norma (perdimento/multa equivalente), o núcleo do tipo “ocultar pessoa” deve estar acompanhado do complemento indissociável “mediante fraude ou simulação”. Se a responsabilidade por infração independe da intenção (dolo) do agente, “salvo disposição expressa em contrário”, nos termos do § 2º do artigo 94 do Decreto-Lei nº 37/1966, este é justamente o caso excepcionado.
Para fins de aplicação do artigo 23 do Decreto-Lei nº 1.455/1976, portanto, toda ocultação será fraudulenta ou simulada. Entre as suas modalidades, por sua vez, encontra-se uma hipótese específica de ocultação que mereceu ser destacada entre as demais: aquela que se vale da interposição de um terceiro para o atingimento do resultado pretendido (acobertar alguém).
Entre as possibilidades apontadas pelo tipo (fraude ou simulação), afunila-se uma forma por meio do destaque dado à ocultação por interposição: a “fraudulenta”, ocupando-se o legislador em fazer a materialidade portar em seu nomem juris a modalização específica da conduta, ainda que a forma simulada estivesse plenamente contida pela hipótese mais genérica (ocultação mediante simulação).
Assim, o gênero (ocultação) deve ser praticado por meio fraudulento ou simulado, enquanto a espécie (ocultação com interposição de terceiro, seja comprovada ou presumida) deve ser praticada por meio de fraude.
É importante se ter em conta que tanto a fraude como a simulação constituem atos intencionais, o que implica, portanto, o dolo como elemento essencial na medida em que ambas as patologias envolvem a vontade consciente de, mediante um engano ou artifício, prejudicar a administração ou obter vantagem indevida.
Não há, portanto, espaço para inflição de pena na ocultação culposa, em que o agente alcança o resultado em virtude de negligência, imperícia ou imprudência. E muito menos na ocultação “inocente”, o que envolveria pena sem culpa, uma vez que a responsabilidade objetiva não convive com a penalidade, sendo necessário o aspecto subjetivo da conduta para que se cominem as penas (link).
Posicionamento do Carf sobre a ocultação “culposa”
Ainda que a legislação aduaneira estabeleça, de maneira bastante clara, que a ocultação do real adquirente e, muito mais, a interposição fraudulenta, apenas possam ser identificadas como antecedente da pena de perdimento/multa equivalente quando diante da comprovação do uso de meios fraudulentos ou simulados aptos a demonstrar a intenção de ocultar o comprador ou comitente, a jurisprudência do Carf sedimentou o entendimento de que se está diante de um delito “apenas de ato”, não dependente da demonstração da intenção de ocultar terceiros, conforme Acórdão CSRF nº 9303-011.114, julgado em 19/01/2021, que conta com o seguinte trecho em sua ementa: “a penalidade decorrente do delito de interposição fraudulenta desestimula a conduta do contribuinte, não dependendo da eficácia, natureza e extensão dos efeitos do ato ou da demonstração, pelo Fisco, da presença do elemento volitivo nos atos praticados”.
Esse entendimento se baseia, em resumo, no argumento, extraído do Acórdão nº 9303-010.174, sob a relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Possas, de que “(…) condicionar a imposição de uma penalidade à demonstração de dano efetivo ou à demonstração do elemento volitivo prejudicaria sua essência instrumental como meio de permitir o monitoramento fiscal” [2].
O raciocínio parte da premissa de que o “dano ao Erário” deve ser considerado como o conjunto de hipóteses previstas no dispositivo legal, entre as quais se encontra a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, sendo bastante a sua demonstração, uma vez que o legislador considerou tal conduta como antecedente da pena de perdimento/conversão em multa equivalente, o que é correto e se encontra expresso pelo enunciado da Súmula Carf nº 160.
No entanto, tornar prescindível a demonstração do elemento volitivo (ou a dissociação entre a causa aparente e causa efetiva do negócio jurídico) é deixar de lado a previsão igualmente prevista no artigo “mediante fraude ou simulação”. Não parece ser possível se concretizar a norma abstrata selecionando os elementos mais convenientes à aplicação. Tampouco se encontra ao longo da argumentação do voto condutor qualquer fundamento para deixar de aplicar a disposição textual da norma.
Posicionamento do STJ: presunção relativa de dano
Percurso ainda diverso foi realizado pelo STJ no REsp nº 1.417.738/PE, sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria, com acórdão publicado em 15/5/2019: para o voto condutor, caso verificada uma das hipóteses de dano ao erário, a demonstração do dolo do agente se torna desnecessária. O dolo apenas passaria a ser relevante quando o ato infracional não causasse qualquer dano à Fazenda Pública.
No caso concreto, discutiu-se a aplicação a aplicação da pena de perdimento a sementes de grama destinadas ao exterior sem manifesto e registro de carga no Siscomex, tendo tanto a decisão recorrida como o STJ decidido não ter havido dano. Por tal motivo, seguindo a premissa estabelecida, passou-se a indagar a respeito da intenção do agente, tendo restado “provado que a companhia agiu de acordo com os procedimentos legais”, motivo pelo qual a turma afastou a pena aplicada.
Segundo o posicionamento firmado por unanimidade pela 1ª Turma, as hipóteses do artigo 23 veiculam presunções relativas de prejuízo ao controle aduaneiro e de dano ao erário, podendo, portanto, serem afastadas mediante comprovação em sentido diverso (inexistência de prejuízo efetivo), o que permitiria o afastamento da pena caso a parte interveniente demonstrasse ausência de dolo ou intenção de causá-lo.
Tal raciocínio implicaria o reconhecimento de uma modalidade tentada para aqueles casos em que, apesar de ter havido a intenção do agente de lesar o erário, seu objetivo não foi alcançado.
Por outro lado, a negativa do reconhecimento de produção de resultado poderia ter por consequência a própria impossibilidade do cometimento de qualquer ato antijurídico por parte do administrado.
No caso julgado, se a falta de registro da carga não é causa eficiente de dano ao erário, então, ainda que se vislumbre dolo, depara-se o intérprete com a impossibilidade de consumação do ato ilícito, o que se aproxima da figura do “crime impossível” previsto pelo artigo 17 do Código Penal.
Por estes motivos, tanto o posicionamento do Carf (total irrelevância do elemento volitivo) como o do STJ (dano ao erário como uma presunção relativa que admite, no entanto, modalidade tentada) merecem revisão.
Hipóteses culposas e dolosas de perdimento
É possível o perdimento ou a conversão em multa equivalente independentemente de intenção do agente, como no caso, por exemplo, em que se encontra mercadoria incluída em lista de provisões de bordo em desacordo com as necessidades do transporte (inciso II do artigo 689 do RA/2009), ou não manifestada a bordo (inciso IV), ou trazida ao Brasil ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa (inciso XX).
Em todos estes casos, não se indaga a respeito de intenção, pois será bastante a negligência, ou qualquer outra modalidade de culpa que atraia o elemento subjetivo do tipo para que reste configurada a infração.
Diverso é o caso, ainda exemplificativamente, da falsificação ou adulteração de documento necessário ao embarque (incisos VI a VIII), da mercadoria já desembaraçada “e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício doloso” (inciso XI), ou daquela “fracionada em duas ou mais remessas postais ou encomendas aéreas internacionais visando a iludir, no todo ou em parte, o pagamento dos tributos”.
Em todos estes casos, assim como na “ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação”, ou sua espécie “interposição fraudulenta” (inciso XXII), atrai-se a excepcionalidade do § 2º do artigo 94 do Decreto-Lei nº 37/1966 (parágrafo único do artigo 673 do RA/2009) e, neles, a inflição da pena (consequente) depende da demonstração da intenção do agente (dolo), não sendo admissível, portanto, a sua modalidade culposa.
[1] Acórdão Carf nº 2301005.119, proferido em 12/09/2017, de relatoria do conselheiro Fábio Piovesan Bozza.
[2] No mesmo sentido: acórdãos 9303-006.002 (decidido em 3/2/2018), 9303-008.721 (decidido em 12/6/2019), 9303-007.452 (decidido em 20/9/2018), 9303-006.509 (decidido em 14/3/2018), 9303-010.174 (decidido em 13/2/2020).
—
O post Ocultação do adquirente e interposição fraudulenta: há modalidade culposa? apareceu primeiro em Consultor Jurídico.