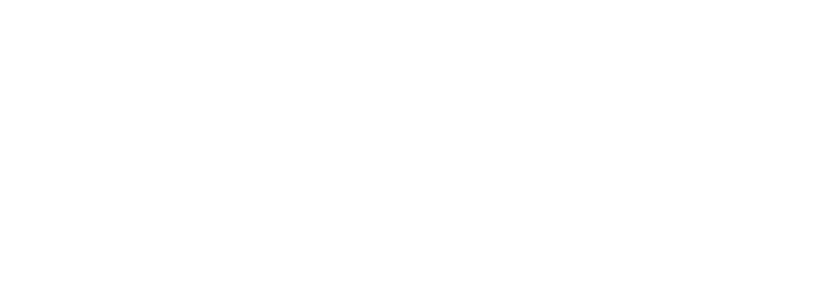No início da década de 1970 do século passado, a agricultura brasileira era considerada por uma parte de estudiosos — alguns vinculados à Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) — um setor atrasado, inoperante, não condizente com o desenvolvimento que se verificava no país. Não conseguia atender de forma adequada às necessidades de uma demanda interna crescente, que decorria da pressão demográfica e do aumento da renda.
A impressão que se passava era de que agricultores com pouca instrução, com informações escassas da própria atividade, sem assistência técnica, com créditos difíceis e dispondo apenas de instrumentos rudimentares de trabalho não tinham ânimo e nem condições de aumentar a produção e a produtividade no ritmo desejado. Ademais, o mau funcionamento de um mercado dominado por oligopólios não permitia muitas vezes transferir para os produtores os ganhos de eventuais elevações de preços. E ainda mais, que a estrutura agrária inadequada era também uma inibidora do avanço.
A agricultura constituía, portanto, um fator autônomo de inflação, responsável pelos aumentos constantes do custo de alimentação. Mesmo o Plano de Ação Econômica do Governo de 1964/1966 introduzia alguma dúvida: “a excessiva disparidade entre as taxas setoriais de crescimento configura um caso em que a agricultura emerge como setor retardatário, ameaçando comprometer a expansão de todo o conjunto” (da economia).
A comparação que se fazia era com a indústria de transformação, cujo produto real, nos dez anos anteriores ao Plano incluindo a crise de 1964, havia crescido à taxa anual de 8,1%, enquanto, nesse mesmo período, na agricultura a taxa anual era de 3,6%.
Estudos realizados na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo contestavam essa visão. As evidências indicavam que:
1) o custo de alimentação na Guanabara e os preços industriais numa série longa, por exemplo de 1945 a 1964, cresciam à mesma velocidade. Na comparação entre dois anos, ou dentro do ano, preços agrícolas poderiam suplantar os preços industriais, mas esta diferença era decorrente de condições climáticas adversas que seriam corrigidas na safra seguinte;
2) a conjugação do aumento da população com a expansão da renda real per capita, adotando-se uma elasticidade-renda da demanda com intervalos estatísticos indicados pela pesquisa empírica, não permitia concluir que a oferta de longo prazo era inferior à demanda e,
3) pesquisas adicionais comprovavam que, na agricultura brasileira, a produção era limitada pela demanda e não pela rigidez da oferta. Comprovou-se que os produtores respondiam plenamente aos estímulos de preços. Portanto, havia mais potencial do que efetivamente se produzia.
Não é necessário enfatizar que o rápido desenvolvimento que se seguiu confirmou esse diagnóstico, revelando um setor altamente dinâmico, quando:
a) propiciaram-se condições adequadas para o agricultor intensificar a sua atividade, entre elas a garantia de financiamento de custeio, de comercialização e de investimento, assistência técnica para a utilização de insumos modernos, e ampliação de estradas vicinais para facilitar o escoamento da safra;
b) eliminou-se o viés antiexportação, cuja providência inicial foi a instituição do sistema de minidesvalorizações cambiais em 1968 e,
c) os produtores foram beneficiados, ao longo dos anos, pelos resultados altamente positivos das pesquisas centralizadas na Embrapa. O preparo de elevado número de pesquisadores, o orçamento adequado e o trabalho de coordenação frutificaram continuamente. Esforços isolados feitos anteriormente, como o do Instituto Agronômico de Campinas em algodão, arroz e café, produziram grandes resultados, mas escapava-lhes a visão da necessidade conjunta de todo o país.
Em resumo, o desenvolvimento contínuo do setor reafirmou um fato simples: a política econômica bem executada, com objetivo claro e definido, produz os resultados almejados. O país tornou-se o maior exportador líquido de produtos agrícolas.
Demografia e segurança alimentar
O caminhar da população mundial nos últimos decênios tem-se caracterizado por: a) queda da taxa de fertilidade; b) redução da taxa de mortalidade infantil; c) elevação da expectativa de vida ao nascer; d) intensa urbanização e diminuição relativa de pessoas subnutridas. Tem havido uma desaceleração do seu crescimento.
De acordo com a ONU, em 1950 a população mundial era de 2.546 milhões, sendo 29,1% de urbana; em 1975, atingia 4.077 milhões, 37,2% urbana; em 2010, chegava a 6.909, 50,5% de urbana; e em 2050, algo como 9.191, com 69,6% de urbana. Entre 1950 e 1975, a taxa anual de crescimento foi de 1,9%; entre 1975 e 2010, de 1,5%, e se projeta 0,7% de 2010 a 2050.
De qualquer maneira, um aumento de 2,3 bilhões de pessoas é um número assustador. Também começam a entrar em cena o envelhecimento e a redução da população em algumas economias, cujos efeitos ainda não podem ser inteiramente previstos.
Assim, a única certeza que existe é a necessidade de mais alimentos. Quanto mais? As projeções, que são exercícios sobre um futuro incerto, fornecem respostas tentativas. Nikos Alexandratos e Jelle Bruinsma 1 projetam as seguintes necessidades, incluindo os não utilizados diretamente como alimento, em taxas anuais e em quantidades para 2050 em milhões de toneladas: i) carnes 1,3%, 455; ii) açúcar 1,3%, 341; oleaginosas 1,5%, 282 em óleo equivalente; e cereais 0,9%, 3.009. O Relatório não faz referência ao pescado, uma fonte fundamental de alimento proteico. Em 2015, foram produzidos 167 milhões de toneladas, sendo 92 de captura oceânica, que vai perdendo sua importância relativa por causa do esgotamento dos recursos em virtude do excesso de atividade, mais 75 de aquicultura. Adotada uma taxa anual de 1,3% para o pescado, serão 282 milhões de toneladas em 2050.
Produção e produtividade
De acordo com a FAO, a produção mundial de alimentos, deduzindo-se as sementes utilizadas, cresceu 2,5% ao ano no período de 1961 a 2014, e a per capita 0,7%. Melhorias nas sementes, técnicas de produção, utilização correta de fertilizantes químicos, inovações tecnológicas e mecanização foram as causas que produziram um contínuo aumento da produtividade da mão de obra e, principalmente, da terra.
Keith O. Fuglie 2 enfatiza que alguns países de grande presença na produção agrícola, como Brasil e China, têm acelerado a produtividade total de fatores nos últimos vinte anos, embora ela tenha crescido em todas as regiões. Entre 1991 e 2000, o Brasil registrou um aumento de 2,38% ao ano, China de 3,94%. Entre 2001 e 2012, o Brasil de 3,23%, e China de 3,09%. Em comparação com uma região desenvolvida, Estados Unidos e Canadá, em conjunto, tiveram uma expansão nesses mesmos períodos de 1,95% e 1,96%, respectivamente.
Nas últimas décadas, a produção agrícola global foi se deslocando de regiões de renda elevada e dos países em transição (antiga União Soviética e países socialistas que passaram a adotar economias de mercado) para regiões menos desenvolvidas, como mostram Julian M. Alston e Philip G. Pardey 3. A área que mais chama a atenção é a região da Ásia e Pacífico, que praticamente dobrou sua participação nesse período.
De fato, em 1961 produziram 23,9% do total mundial e em 2005 chegaram a 44,7%. A América Latina e Caribe passaram de 9,2% em 1961 para 12,8%; a África Subsaariana de 5,6% para 6,2%; o Oriente Médio e Norte da África de 3,7% para 5,2%; os países de renda alta de 43,8% caíram para 24,6%; e os países em transição de 13,8% para 6,5%.
O que se pode esperar da agricultura numa perspectiva de longo prazo? Não existe escassez de terra arável nem de água em níveis globais para atender as necessidades da demanda. Pode haver uma dificuldade ou outra para combinar em proporção adequada terra e a água, que podem tornar-se escassas, com outros fatores de produção a nível regional.
A discutida questão das irregularidades climáticas não parece ser um impeditivo. As estatísticas históricas confirmam que o aumento da produtividade foi a principal causa que impulsionou a produção de alimentos. Provavelmente o futuro irá replicar o passado, talvez num ritmo um pouco mais lento. As possibilidades de inovação tecnológica são imensas, principalmente com o uso dos instrumentos da quarta revolução industrial que se encontra em marcha, a denominada “manufatura inteligente”.
Não há dúvida de que ela implicará em mudanças fundamentais no setor, difíceis de prever, mas que vai exigir uma maior e ampla qualificação da mão de obra.
Alguns desafios para o Brasil
O mundo acredita no desempenho da agricultura brasileira como importante fonte para atender a necessidade crescente de alimentos. Isso coloca alguns desafios que a política econômica tem pela frente. Vamos listá-los tentativamente:
1) Aprofundar as pesquisas que aumentam a produtividade. Nesse particular a Embrapa tem enorme papel a desempenhar;
2) Propiciar aos pequenos agricultores melhor acesso à tecnologia, à assistência técnica, ao crédito, além de reduzir a vulnerabilidade às imperfeições do mercado. Elevar a qualidade e a produtividade de sua produção para que seja competitiva no mercado mundial;
3) Melhorar a competitividade dos produtos “fora da porteira”, sabidamente com inúmeros problemas atualmente. Eles têm causado a perda da produtividade conquistada da “porteira para dentro”. Muitas vezes implicam em uma tarifa efetiva negativa;
4) Reduzir a emissão líquida de CO2;
5) Estimular a implantação de sistemas de irrigação poupadores de água, que vai se tornando fator escasso em nível regional e;
6) Garantir financiamento condizente com as características do setor, além de um seguro que preserve a renda em períodos de clima adverso.
*agradeço a colaboração do professor Akihiro Ikeda na elaboração deste texto
**artigo publicado originalmente pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
__________________________________________________________________
1. “World Agriculture Towards 2030/2050”, ESA Working Paper 120-03, jun/2012, Relatório FAO.
2. “Accounting for growth in global agriculture”, Bio-based and Applied Economics 4(3), 2015.
3. “Agriculture in the Global Economy”, Journal of Economic Perspectives, vol.28, no. 1, winter/2014.
—
O post A política e a economia da agricultura e da segurança alimentar apareceu primeiro em Consultor Jurídico.