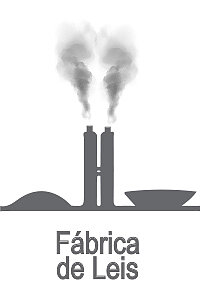O Direito Financeiro estuda como o Estado organiza a arrecadação, o gasto, a dívida, e como tudo isso é repartido e controlado. Nessa definição encontram-se as grandes áreas da disciplina: orçamento, receita, despesa, divida, federalismo e controle.
A análise dessas áreas não pode ser feita de forma mecânica, meramente formal, como uma “planilha Excel” — de um lado se coloca a receita, no outro a despesa, daí surge o orçamento, e por aí vai. Houve uma época em que se afirmava que o orçamento sequer era uma lei — esse foi o entendimento do STF até o início deste século.
Para afastar o singelo formalismo, é necessário reconhecer substância ao direito, e, no caso jusfinanceiro, demonstrar que o uso dos recursos públicos busca a concretização dos direitos fundamentais, sendo um dos mais importantes a isonomia, que contém o cerne do Direito e da Justiça
Dizer que “todas as pessoas são iguais perante a lei” não é suficiente para a isonomia, pois, nessa hipótese, se poderia chegar a verdadeiros absurdos, tais como estabelecer que todos devem prestar o serviço militar, inclusive os recém-nascidos.
Ou permitir que, em um ringue de boxe, pudessem lutar pesos-pena e pesos-pesados, o que tornaria a disputa desigual, favorecendo os mais fortes. Também não funciona entender a isonomia no sentido de que “se deve tratar igual ao igual e desigual ao desigual”.
Entender a igualdade dessa maneira seria afirmar que “os desiguais devem manter sua desigualdade”. Não é dessa maneira que se deve interpretar a norma, mediante uma compreensão meramente formal. Deve-se verificar em quais situações é necessário fazer distinções.
A forma adequada de se buscar isonomia é identificando a desigualdade e adotar ações para reduzi-la, respeitando as diferenças. Por exemplo, identificado um injustificado tratamento desigual entre homens e mulheres, deve-se agir para reduzir essa desigualdade e permitir um tratamento mais isonômico entre esses gêneros.
É pelo direito fundamental ao tratamento isonômico que as questões de gênero adentram no direito financeiro. É necessário combater a desigualdade (aspectos externos às pessoas), respeitando as diferenças (características intrínsecas às pessoas), como demonstrei em outro texto (Da Igualdade à liberdade. Considerações sobre o Princípio Jurídico da Igualdade. Belo Horizonte: D’Placido, 2022)
Como fazer? E o Direito Financeiro com isso?
A resposta é: siga o dinheiro.
No âmbito da arrecadação tributária, a recente EC 132 estabeleceu um regime diferenciado de tributação com redução de 60% da alíquota base do IBS e da CBS para os “produtos de cuidados básicos à saúde menstrual” (artigo 9º, §1º, VI). A cada cinco anos todos os regimes diferenciados estabelecidos serão avaliados, e, dentre outros aspectos, deve ser observado se está ocorrendo a promoção da igualdade entre homens e mulheres (artigo 9º, §11).
Pelo lado da despesa, é necessário que haja dinheiro para custear as políticas públicas dirigidas à igualdade de gênero, com respeito às diferenças. Por exemplo, é necessário que sejam alocados recursos para implementar a Lei 14.214/21, que instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, pois, sem dinheiro, o que lá está previsto não se concretizará.
Existe todo um debate sobre Orçamentos Sensíveis a Gênero, conforme exposto no livro com esse título, organizado em 2012 por Márcia Larangeira Jácome e Shirley Villela, no âmbito do programa da ONU Mulheres.
Há muito a ser feito nos três níveis de governo. Deve-se identificar programas que sejam orientados para as mulheres e analisar se a quantidade de recursos é satisfatória, em comparação com os demais. Deve-se revisitar e reavaliar os resultados buscados e obtidos com relação a tais políticas. É necessário assegurar que esteja havendo efetiva focalização nas questões cruciais, que diferenciam os gêneros.
Um exemplo esclarece: existem estudos estatísticos que demonstram que as mulheres gastam muito mais tempo em trabalho doméstico que os homens, porém isso não é efetivamente considerado para fins previdenciários, o que requer maior atenção jusfinanceira, a fim de reequilibrar a relação.
Existe todo um debate no Direito Penal sobre violência doméstica e sobre o aborto que requer ações concretas para seu enfrentamento, o que exige, além da vontade política, recursos públicos para reverter esse quadro lamentável, o qual vem sendo estudado por Ana Elisa Bechara em incontáveis textos e conferências nos últimos três anos.
A análise da perspectiva de gênero em matéria financeira toma força no Brasil. Recente artigo de Fabiana Ribeiro Bastos e Helena Trentini publicado nesta ConJur aponta caminhos a serem trilhados.
Tudo isso comprova ser uma balela essa história de neutralidade do Direito. O Direito Financeiro serve para a concretização de direitos fundamentais, e a promoção da mais ampla isonomia entre as pessoas é uma maneira de lhe dar substância.
Não discriminar em razão de gênero é pouco; deve-se verdadeiramente promover a isonomia por meio de ações concretas que contem com suporte financeiro, modificando a realidade hoje existente. Entender o Direito Financeiro como neutro implica em considerá-lo apenas como uma “planilha Excel”.
Falar de um Direito Financeiro de Gênero implica em realizar um corte metodológico para identificar e estabelecer programas visando ultrapassar os problemas concretos que afetam metade da população brasileira, combatendo as desigualdades e respeitando as diferenças.
Ao ser feito esse recorte metodológico, deve-se considerar as diferenças existentes dentro do gênero, pois são realidades vastamente distintas as vividas pelas mulheres pretas, indígenas, nortistas, com ou sem filhos etc.
Um exemplo
O TSE construiu uma jurisprudência diferenciando as mulheres e as mulheres pretas para fins de financiamento eleitoral, em busca de promover maior igualdade nas disputas pelos cargos eletivos em nosso país.
O dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, celebrado semana passada, é apenas um registro nessa trajetória para lembrar a importância desse tema e o universo que existe a ser analisado, inclusive sob o âmbito do Direito Financeiro.
Não basta incluir a palavra “mulher” para “adornar” a disciplina; é necessário que o enfoque seja efetivamente dirigido ao enfrentamento das questões de gênero, com todas as características que o assunto exige para ser abordado com seriedade, solidariedade, e, porque não dizer, com mais amor.
Fonte: Conjur